A revolução não será televisionada, mas o apocalipse é sucesso na Netflix – Sobre “Não Olhe Para Cima”

O maior arrasa-quarteirão cinematográfico dos últimos tempos, que alegra os acionistas da corporação transnacional Netflix, coloca um cometa em rota de colisão com nosso planeta e depois gasta duas horas tirando sarro da imensa comédia de erros que conduz à nossa extinção.
Curioso o destino do hoje famoso filme de Adam McKay sobre esta intrusão que não é de Gaia (pardon, Mademoiselle Stengers!), mas de uma força externa à Terra: há algo de consolador em pensar no meteoro que nos atinge de fora, o que nos salva de encarar a intragável verdade, exposta por Elizabeth Kolbert: na sexta extinção em massa da biodiversidade planetária, agora em curso, a humanidade… é o cometa. Nós somos a catástrofe.
No filme, “a humanidade” parece uma bando de baratas tontas diante da ameaça, e o próprio capitalismo é apontado como co-responsável pela catástrofe (o plano do CEO da Big Tech naufraga…). Mas tudo conspira para que Mark Fisher, filósofo hoje falecido, possa consolidar a frase de Jameson que ele voltou a pôr em circulação, e que Zizek propagou, como uma das mais emblemáticas do tempo contemporâneo: “é mais fácil imaginar o fim–do-mundo que o fim do capitalismo.”
Em outros tempos, Don’t Look Up poderia ser lido como nada além de uma sátira de um gênero cinematográfico, o filme catástrofe, que sublinha seus ridículos exageros a partir de uma montanha de caricaturas. Porém, em tempos tão insanos quanto os nossos, este filme tem sido compreendido como um retrato mais realista do que muitos documentários (!) daquilo que se passa em um mundo que parece acelerar rumo a uma série de colapsos devido ao desequilíbrio brutal imposto aos ecossistemas e ao sistema climático.
Esta crônicas cinematográficas apocalípticas são uma tendência e vêm ganhando fôlego nos últimos anos através de obras como Melancolia de Lars Von Trier, Snowpiercer – Expresso do Amanhã, de Bong Joon-Ho, além de The Road, Wall-E, Mad Max e congêneres. O filme-Apocalipse já havia sido marcado de maneira altamente irônica por Stanley Kubrick em Doutor Fantástico na era da bomba nuclear, e agora, nesta hora de boom do streaming e das pandemias de coronavírus, McKay crava uma nova obra neste panteão de profetas do apocalipse da 7ª Arte.


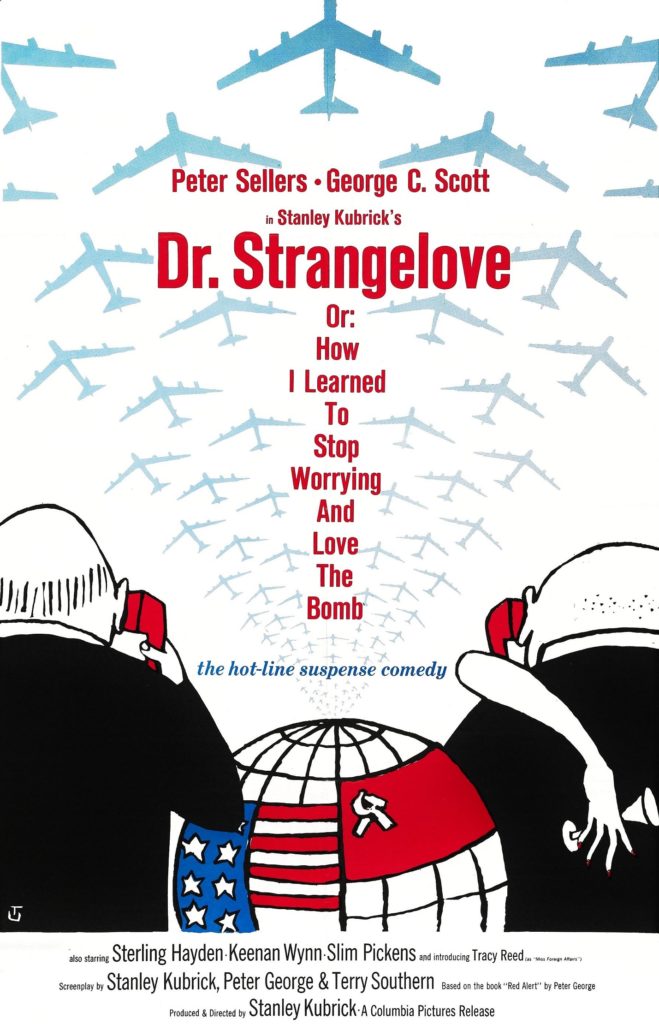

Impossível debater a fundo sobre Não olhe para cima sem um spoiler elementar que diz respeito ao desfecho do filme: estamos diante de uma obra que afirma a possibilidade da destruição completa da humanidade, pontuando através de sua comédia de equívocos que não nos foi possível enfrentar e superar a ameaça a tempo e a contento. A gente foi, no filme, um fiasco. Puro realismo!
Ainda que de maneira fantasiosa e utilizando-se de humor exagerado, a obra tem a coragem de apresentar um final infeliz para a saga humana e de frisar que o atual estado das coisas em nosso panorama político e mediático não nos dá muitos motivos para sermos otimistas em relação as nossas possibilidades de salvar-nos das catástrofes socioambientais. Estas já se tornaram impossíveis de evitar, mas seus impactos ainda poderíamos atenuar caso tivéssemos a coragem coletiva e a eficácia transformadora para enterrar o capitalismo. Através de uma “revolução Benjaminiana” que começasse por pisar no freio de emergência.
A alternativa que se coloca, semelhante aquela proposta por Rosa Luxemburgo entre o socialismo e a barbárie, hoje consiste na escolha entre a continuidade de um capitalismo apocalíptico e a construção de um socialismo que aparece para muitos como mais difícil de imaginar se realizando do que o fim do mundo.
É neste contexto que volto a frisar que a frase do falecido filósofo Mark Fisher (que a pescou em Jameson e a pôs no cerne de seu debate sobre o “realismo capitalista”) ganha dimensões inauditas como uma das mais importantes expressões de nosso zeitgeist: “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.”
A comédia do apocalipse que é hype na Netflix fornece uma boa ilustração desta tese ao frisar o quanto o próprio Apocalipse pode ser uma mercadoria de consumo no mercado do entretenimento em massa. A revolução certamente não será televisionada, como Gil Scot-Heron já ensinara, nem terá muito espaço na Netflix ou no metaverso. Mas a catástrofe planetária produzida pela insanidade capitalista desde a revolução industrial, e que não dá sinais de frenagem após a revolução digital, tem mostrado tendências à consolidação de vertentes cada vez mais fortes de comercialização do Apocalipse. Estórias apocalípticas vendem bem.
Não há dúvida de que a crise climática que só se aprofunda e se tornará mais grave no decorrer do século 21 não irá impedir milhões e milhões de pessoas de se divertirem gargalhando diante das produções de mega corporações capitalistas como a Netflix – que vão explorar a presença concreta na conjuntura do planetaTterra de um brutal desequilíbrio na Teia da Vida para lucrarem com a catástrofe. Disaster capitalism. De maneira que a grande Pergunta a se fazer,e que tem sido recalcada no debate público ensejado pelo filme, é: será mesmo que existe tanta diferença entre o patrão da empresa de celulares no interior do filme e os poderosos chefões da Netflix no que diz respeito ao oportunismo, típico do capitalismo de desastre, que consiste em enxergar na catástrofe uma lucrativa oportunidade?

OS OUVIDOS MOUCOS DA NORMALIDADE
O único animal que alucina – não à toa, o único também a inventar religiões – é pouco apegado à verdade. Pode até prestar-lhe homenagens verbais, mero lip service. Mas quando a verdade é desagradável, quando gera uma “ferida narcísica” (como dizia Freud), o animal em questão corre a pedir refúgio no regaço da Mamãe Ilusão.
A explicação para o poder da credulidade está justamente neste apego às ilusões que melhor satisfazem ao animal-Narciso: prefere-se crer a conhecer pois pode-se crer em algo satisfatório para a vaidade humana (estamos no centro do Universo, um Deus-Pai bondoso e onipotente zela por nós, no final da história há um ‘felizes para sempre’… etc.).
Credulidade é também o grande conceito ausente de um imenso caudal de textos que pretendem comentar sobre as mazelas da condição contemporânea falando em obscurantismo ou em negacionismo como males-da-era – o que de fato são, mas não teriam estes males nada a ver com o fato de quão crédulos animais prosseguimos sendo?
As filas estão repletas para o consumo de mentiras confortáveis, ilusões reconfortantes, soluções miraculosas, já as verdades nuas e cruas acerca da situação da Vida neste planeta são consideradas um prato intragável. Estamos viciados em entertainnment, e acostumados a acessar via indústria cultural uma popice mainstream que não está formando sujeitos capazes de senso crítico e aptos ao esforço coletivo da descoberta da verdade.
Ao contrário, as verdades factuais mais preocupantes acerca das mudanças climáticas ou a extinção da biodiodiversidade soam horríveis aos paladares das massas plugadonas nas máquinas-de-imagens com as quais seguimos nosso destino de alucinados. Levantem-se os muros do negacionismo contra esta trupe malévola de marxistas culturais, de cientistas anti-obscurantistas, que ficam aí soando alarmes que não nos deixam dormir!

O HYPE, O ZEITGEIST
O hype que rodeou a produção da Netflix Don’t Look Up ao fim de 2021 é sintoma dos tempos: o filme escrito e dirigido por Adam McKay põe de fato um dedo na pulsação de nosso presente zeitgeist, tematizando as reações sociais diante de um evento de extinção anunciado pela ciência a uma sociedade que, em larga medida, faz ouvido moucos. Sociedade “fissurada” (como diz Márcia Tiburi) que distrai-se nas redes sociais cada vez mais viciantes para não encarar a responsabilidade coletiva.
Sem jamais mencionar nem a pandemia de covid, nem o aquecimento global, a obra faz do Cometa uma grande metáfora. Este Cometa é aquilo que a maior de nós não deseja saber que existe e está à caminho. O objeto que desejamos alienar de nossa atenção, não considerar em nossa consciência, o supra-sumo do recalcado. É aquilo ao qual nossa ignorância voluntária se aplica. Quem nos lembra do Cometa, deve ser reduzido ao silêncio. Sua mensagem não deve ser levada a sério. Na verdade trata-se de gente doente que fica divulgando falsas notícias más.
No debate das fake news, o conceito ausente também deveria marcar mais presença: é por credulidade que se adere a uma notícia falsa, mas também é por credulidade que muitas vezes acusam-se injustamente certos jornalistas por estarem sendo propagadores do falso: o crédulo crê que se a notícia é má se tem por efeito deprimi-lo, e cego pelo afeto o crédulo conclui (falsamente): então ela só pode ser falsa. A premissa aqui é: verdadeira é toda notícia que me agrada e que satisfaz meu amor-próprio; falsa é toda notícia que me entristece ou me alarma, picando-me com o pernilongo do despertador moral, e como que exigindo de mim que faça alguma transformação em minha atitude e crenças subjacentes.

Na sátira do filme, o cientista encarnado por DiCaprio não é uma figura idealizada, sem defeitos, possuindo alguns pontos de contato com outro personagem de cientista que marca a arte contemporânea: Mr. Beard, protagonista do Solar de Ian McEwan. Ambas as obras querem frisar que os cientistas são falíveis, sujeitos a desvios éticos, nem sempre os melhores gestores de seus próprios afetos – o Dr. de Don’t Look Up é um junkie de Xanax e outros psicotrópicos, o que é um modo de dizer que quem olha demais debaixo de certas pedras vai acabar encontrando um escorpião que o pique.
O filme é o veículo involuntário de uma ideologia que coloca o cientista como figura deprimida, que se entope de remédios para poder suportar a desolação envolvida em sua visão-de-mundo desmistificadora e que ousa enxergar um Cometa onde há um Cometa. O filme tampouco é doce com os que se alienam voluntariamente, mas mostra toda uma maquinaria midiática que parece produzir uma tendência widespread ao negacionismo, à transformação de um evento de extinção em a lot of fun.

A vida erótica das celebridades dá muito mais Ibope do que os alarmes dos cientistas acerca da catástrofe que se avizinha. Nos talk shows, os break-ups de jovens cantoras (como Ariana Grande) recebem muito mais engajamento nas redes do que o segmento científico convenientemente exilado para o fim do programa.
Quando pela primeira vez Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e o Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) vão ao The Daily Rip para serem entrevistados ao vivo, a mocinha que tenta fazer-se ouvida consegue apenas ser menosprezada pelos hosts como alguém que precisa de treinamento midiático para aprender a não gritar histericamente de maneira tão desagradável.
Entre as ilusões confortáveis que o filme satiriza até reduzi-las a pó estão: a confiança nos bilionários da high-tech e seus planos mirabolantes; no caso, a empresa de celular BASH, cujo CEO manda na presidenta dos EUA como se esta não passasse de sua cadelinha, vende-se como responsável pela solucionática que transformará uma aparente catástrofe em uma gigante oportunidade.

Não há celulares a fabricar em um planeta morto, mas o CEO não se importa: vê no cometa uma oportunidade de minerar pelas substâncias necessárias para a fabricação da mercadoria que o fez podre-de-rico. A burguesia fede (“e enquanto houver burguesia não vai haver poesia…”).
A propaganda enganosa de uma panacéia nascida no Vale do Silício está escancarada no filme, que mostra o ridículo de se curar a depressão com vídeos de gatinhos administrados pelo celular inteligente sempre que este diagnosticar em seu dono uma palpitação cardíaca ou sinapses cerebrais indicativas de tristeza… Nenhum vídeo de gatinho vai salvar ninguém da catástrofe climática em que já estamos imersos.
A solução militarista também é espinafrada através da péssima escolha que a presidenta realizada do Salvador da Pátria: um velho militar machão é chamado para ser o Rambo-num-foguete que vai resolver a porra toda. Só que não.
Numa atitude que pode fazer o brasileiro evocar a estupidez relinchante de Jair Bolsonaro ao escolher o general Eduardo “não sei o que é o SUS” Pazuello para o cargo de Ministro da Saúde após as demissões de Mandetta e Teich, durante a pandemia de covid 19, o filme revela toda a insensatez das crenças estabelecidas dirigidas às panacéias-da-força, às soluções bélicas, a estes ogros que sacam metralhadoras e atiram contra os furacões tentando pará-los.
A fantasia salvacionista dos super-ricos também é defenestrada: eles podem até conseguir escapar do apocalipse dentro de um foguetinho só para V.I.P.s, destinado a uma colônia espacial. Mas o filme delineia um happy end só pra destroçá-lo nas bocas famintas de emas alienígenas que adoram jantar carne humana e estão pouco se lixando para o tamanho das contas bancárias de suas jantas. O triunfo dos Bronterocs, que acham delicioso o gosto da carne humana devorada, nem ligando que se trata de uma espécie literalmente em extinção...

ARMAGEDON ECONÔMICO E OGROSFERA MIDIÁTICA

Em seu filme The Big Short (A Grande Aposta), o cineasta já exercitava sua ácida sátira tendo como alvos os tubarões de Wall Street que causaram o colapso econômico lá pelos idos de 2007 e 2008. Fraude e estupidez são dois conceitos frequentemente mobilizados para tentar explicar a absurdidade do ocorrido: foram mais de 6 milhões de pessoas que perderam seus empregos e 8 milhões que perderam suas casas apenas nos Estados Unidos. O filme foca nas peripécias dos personagens que puderam prever que a catástrofe era iminente e que tentaram lucrar com o colapso do mercado de mortgages.
Baseado na obra The Big Short: Inside the Doomsday Machine, de Michael Lewis, o filme foca nas entranhas do Armagedon Econômico causado pela galerinha fã de Pinochet e dos Chicago Boys – proposta ultraliberal que o Guedes adora propor por aqui. O título original do livro em que o filme se baseia contém uma menção à “Máquina do Apocalipse” (Doomsday Machine) e por aí se vê que Adam McKay já tem estrada na sondagem dos males apocalípticos que assolam esta terra redonda.
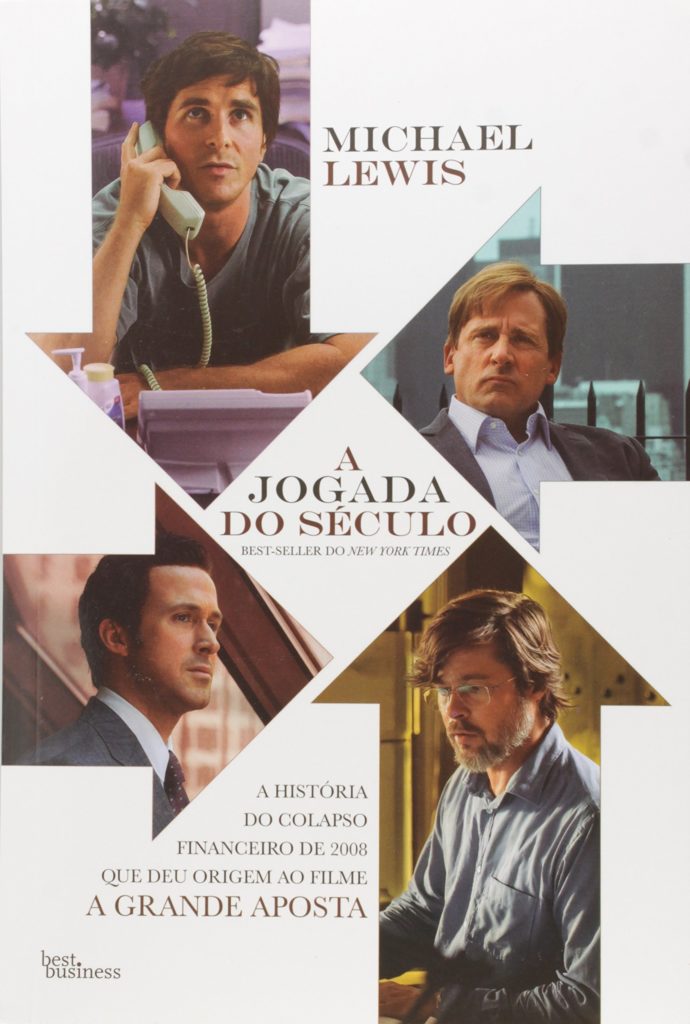
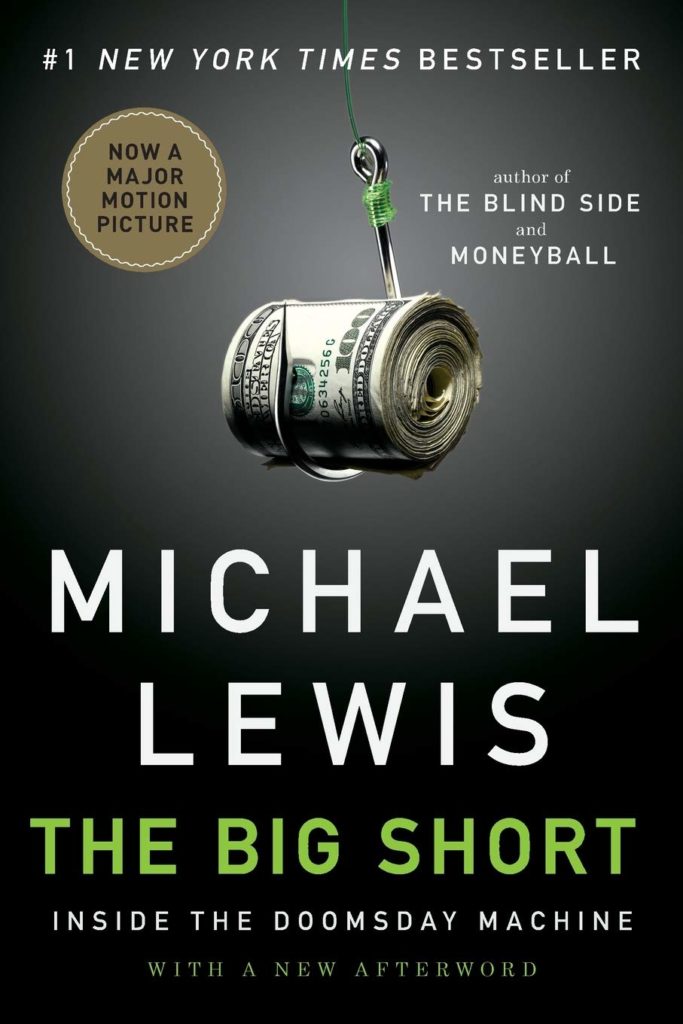

Em seu filme de 2021, o muito hypado “Não olhe para cima”, McKay irá retornar a este tema do capitalismo de desastre, ou seja, práticas realizadas desde o interior de um sistema em estado de pane e que desejam, de maneira oportunista, encontrar na crise oportunidades de altíssima lucratividade. Naomi Klein foi outra excelente intérprete deste fenômeno sobretudo em seu The Shock Doctrine – onde mostra, p. ex., que a passagem do Katrina por New Orleans foi utilizada como oportunidade de negócios pelas entidades privatistas interessadas em “reconstruir” a cidade após a hecatombe.
Em uma das cenas mais lúcidas o personagem vivido por Brad Pitt faz crítica da festa que faziam em Las Vegas os seus comparsas que estavam apostando contra a economia estadunidense: ele diz que o sistema bancário transforma tudo em números, não enxergando destinos em carne e osso mas apenas dígitos em planilhas, e cita uma estatística que prevê “40.000 mortes sempre que a taxa de desemprego sobe 1%.”
Já o personagem vivido por Christian Bale, Dr. Michael Burry, dotado de um olho de vidro e um apetite insaciável por heavy metal, percebe desde 2005 que uma bolha imobiliária irá estourar com efeitos catastróficos para a economia estadunidense, e torna-se pioneiro na exploração das possibilidades de lucro que existem em apostar no colapso.
O filme revela as entranhas de um sistema econômico enlouquecido, que não à toa é apelidado por alguns como Freakonomics. Mostra em detalhes o funcionamento cotidiano daquilo que muitos vêm chamando de cassino capitalismo, e o faz através de cenas notáveis que se passam na capital da jogatina, Las Vegas.
Como costuma acontecer em muitos de seus filmes, o cenário midiático também é objeto dê uma atenção satírica bem pontiaguda que revela os interesses de corporações de comunicação como Wall Street Journal que preferem não noticiar uma tragédia anunciada até que ela esteja plenamente consumada.
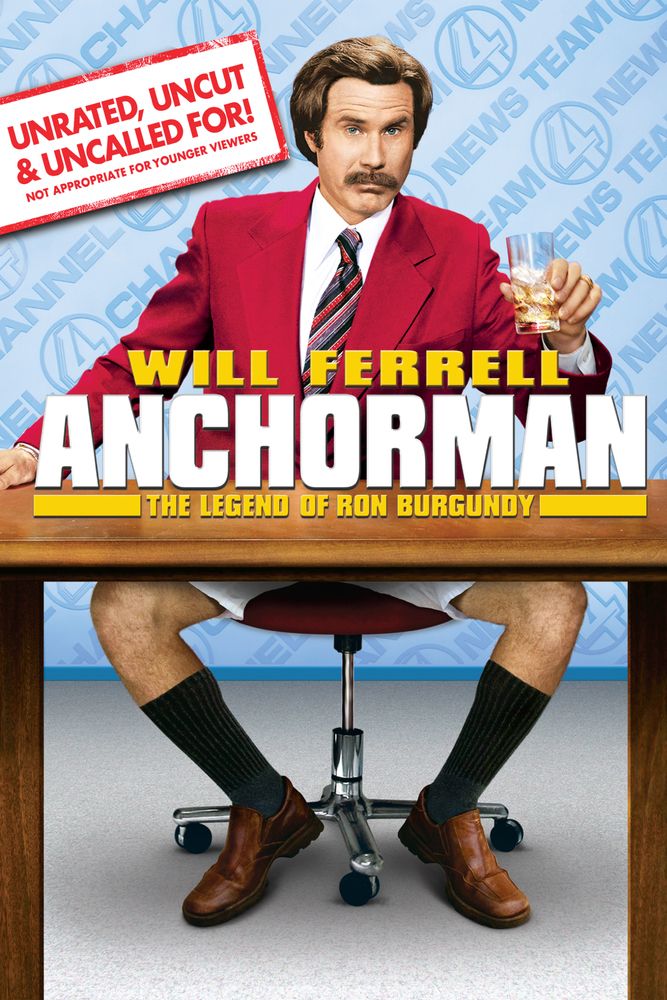

Em um filme anterior, O Âncora, o diretor já havia se debruçado sobre a ogrosfera midiática em um telejornal de San Diego, Califórnia, retratando através de caricaturas grotescas a dominação masculina reinante em uma redação jornalística que tem como grande estrela Ron Burgundy, interpretado por Will Ferrell. O filme tematiza uma fobia masculinista em relação as mulheres em papel de destaque enquanto âncoras de telejornais através da figura da personagem Verônica, interpretada por Cristina Applegate, loura deslumbrante que é descrita sendo vítima de vários episódios de assédio sexual no espaço de trabalho e inúmeros xavecos patéticos disparados contra ela por aquilo que parece uma horda de tarados neandertais.
Já haviam ali prenúncios da sátira a ser desenvolvida na obra de 2021: o nascimento de um panda no zoológico local é considerada uma pauta importantíssima, capaz de mobilizar toda a imprensa de San Diego, a despeito de sua quase completa e absoluta irrelevância social. Revela-se aqui uma outra faceta do Câncer sistêmico: consiste em transformar o jornalismo, que deveria servir ao interesse público através de informações relevantes aos cidadãos, em um sub-ramo do entretenimento alienante.
Apesar dos exageros característicos de uma obra proporcionada por caricaturas, através dos dois filmes sobre O Âncora podemos ter acesso ao domínio capitalista da mídia impõe a tirania dos ratings, ou seja, a escolha de programação baseada naquilo que dá mais Ibope. Hoje sabemos que notícias desalentadoras a respeito do aquecimento de nosso planeta ou da extinção em massa da biodiversidade não geram tanto interesse quanto as fofocas sobre a vida erótica das celebridades do showbiz.
Notícias de “terror científico” são rechaçadas pelos magnatas da mídia com o argumento comercial (e não intelectual) de que se trata apenas de alarmismo, e que obviamente soar os alarmes não vende.
Revolucionários costumam repetir que reformar o capitalismo é o equivalente a tentar perfumar a merda. Os ambiciosos oportunistas que lucram com a catástrofe das subprimes são similares ao CEO da empresa BASH Celulares, que vende a falácia de que possui não apenas a solução tecnocientífica para quebrar o cometa em vários pedaços menores, a fim de que ele não impacte tremendamente nosso planeta, como além disso afirma que há uma enorme oportunidade de lucro através da mineração de substâncias presentes no Cometa, e que poderiam ser utilizadas na fabricação de futuros smartphones, notebooks e outros gadgets.

SUPERAR O IMOBILISMO
Uma comédia, é óbvio, está aí para suscitar afetos alegres e produzir como respostas a seus estímulos sobretudo risadas aliviantes. Mas, para além do óbvio, é possível julgar os efeitos psico-sociais de uma comédia assistida por dezenas de milhões de pessoas perguntando se ela produz ansiedade, desesperança, niilismo ou imobilismo. Em sua matéria publicada na Jacobin, Mariana Bastos confessa que “não conseguiu rir de nada” e fala de Não Olhe Para Cima como possível “gatilho” para crises de ansiedade como aquela que a autora vivenciou.
Uma “crise de ansiedade bem similar experimentei quando acompanhamos uma tenebrosa reunião ministerial conduzida no início da pandemia com Ricardo Salles falando em aproveitar a oportunidade para passar a boiada, Paulo Guedes reconhecendo a admiração por um ministro de Hitler e Bolsonaro demonstrando que sua prioridade não era enfrentar a pandemia, mas armar a população.”
Quem vem acompanhando o noticiário brasileiro dos últimos anos, sobretudo no período pandêmico, não a de sentir o baque do impacto desta obra ficcional com tanta força pois a boçalidade do mal que grassa entre nós vem nos acostumando há um show de horrores diário que faz qualquer distopia fictícia parecer de uma leveza acabrunhante. Nosso véio da Havan é de fato muito mais repulsivo do que o bilionário da Bash, e as frases do empresário da carniceria Madero são bem mais cruéis do que qualquer coisa dita pelas autoridades políticas do filme.
“Até o bilionário do filme parece menos abjeto e imbecil do que o bilionário brasileiro, que autorizou o emprego de tratamentos comprovadamente ineficazes na própria mãe só para provar seu negacionismo – e vê-la falecer. É como se a realidade fosse uma caricatura da ficção.”
O filme pode conduzir à conclusão ingênua e equivocada de que estamos todos no mesmo barco e de que uma tragédia ambiental nos atingiria de maneira equânime. O que está longe de ser o caso na atual situação em que o aquecimento global atinge diferencialmente as populações e os territórios, de modo que as dezenas de milhões de pessoas que viveram suas vidas destruídas em Bangladesh não tem um pingo de responsabilidade na produção das condições desta crise monumental proporcionada principalmente pelos excessos dos países capitalistas industriais ditos avançados. Quem paga o preço, como de praxe, são os mais pobres, os mais desmunidos.
Na fábrica incansável de memes que é a internet brasileira, muitos comediantes da rede correram a estabelecer analogias entre o cientista interpretado por Leonardo DiCaprio e o divulgador científico Átila Iamarino, entre a doutoranda Dibiasky e a cientista brasileira Natália Pasternak, entre o filhote da presidenta dos Estados Unidos e um dos filhos do Coiso, Carluxo Bolsonaro. A própria presidenta vivida por Meryl Streep foi comparada com Jair bolsonaro, ainda que o horror produzido pelo presifake psicopata seja incomparavelmente superior em relação àquele produzido pela personagem.
“Com a nossa imaginação amputada pela mentalidade neoliberal, é muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”, escreve Marina. Sim. Os ricos e poderosos que hoje exercem seu domínio certamente não estão capacitados para evitar o apocalipse através de quaisquer soluções compradas, pois a natureza da crise planetária que se aprofunda é do tipo que não pode ser resolvida simplesmente com uma carteirada, mesmo que esta seja de alguns punhados de Bilhões de Dólares. Não iremos comprar uma panacéia que nos salve das consequências de nossos próprios excessos.

Por Eduardo Carli de Moraes, 01/02/2022
A Casa de Vidro Ponto De Cultura, Goiânia
Link permanente: https://acasadevidro.com/dontlookup
OUTRAS LEITURAS SUGERIDAS:
-
“Não Olhe Para Cima”. Olhe para o lado, Por Mariana Bastos em Jacobin
- “O narcisismo do apocalipse”, Por Luiz G. Beluzzo em Carta Capital
-
“Negacionistas São Os Outros”, Por Alyne Costa em Pise A Grama
- “O Que Vemos Quando Olhamos Para O Céu?”, por Eduardo Escorel na Piauí
Publicado em: 01/02/22
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes




