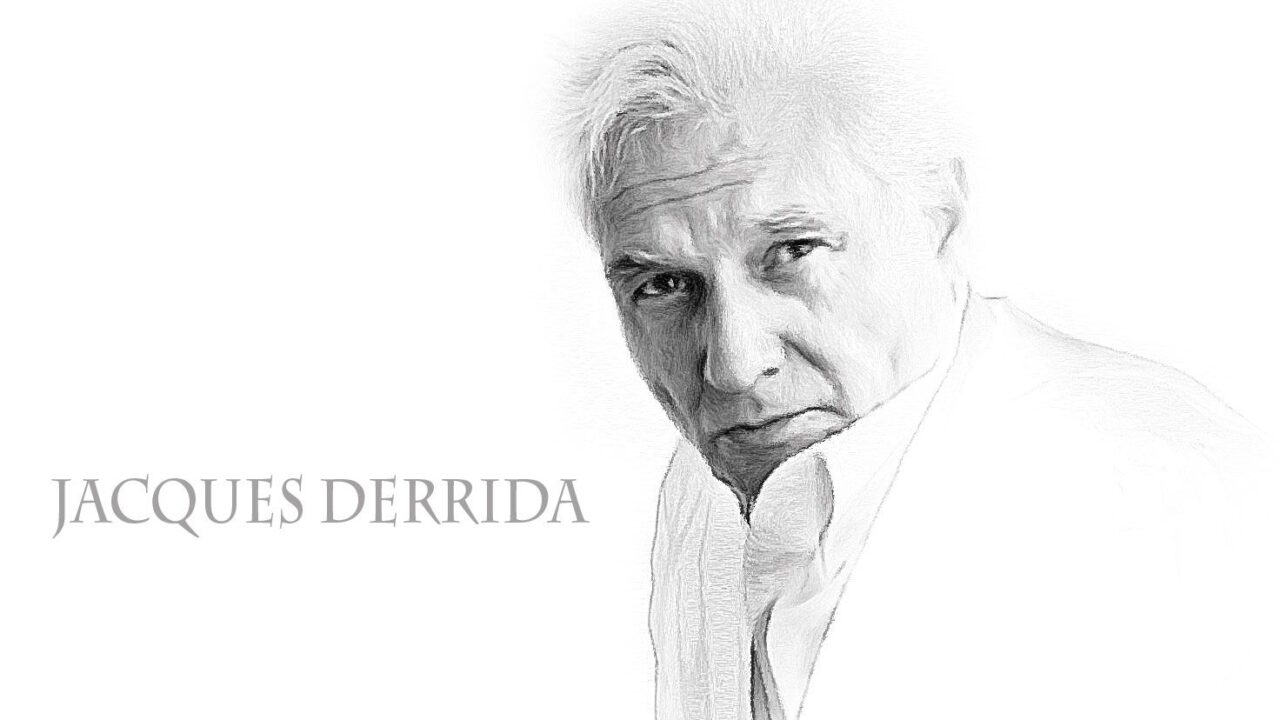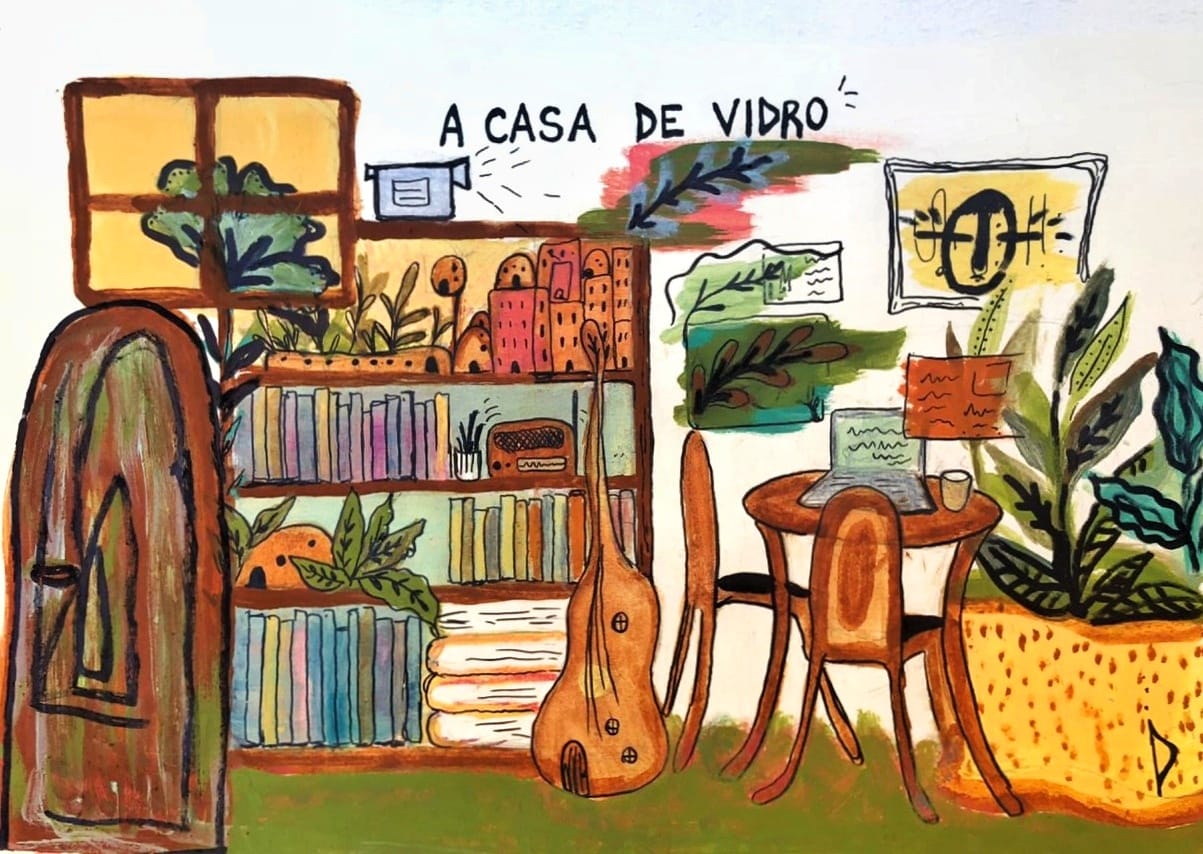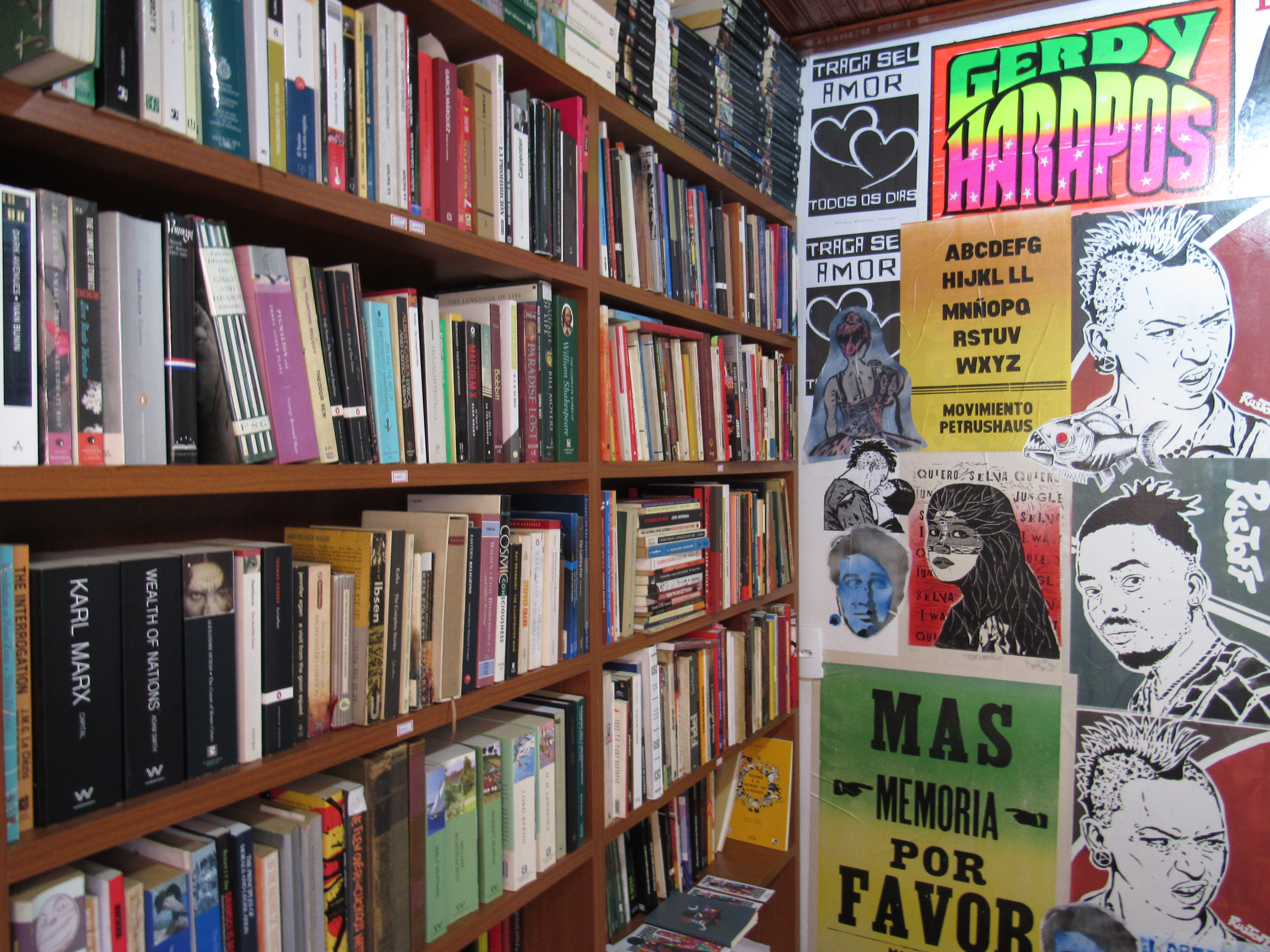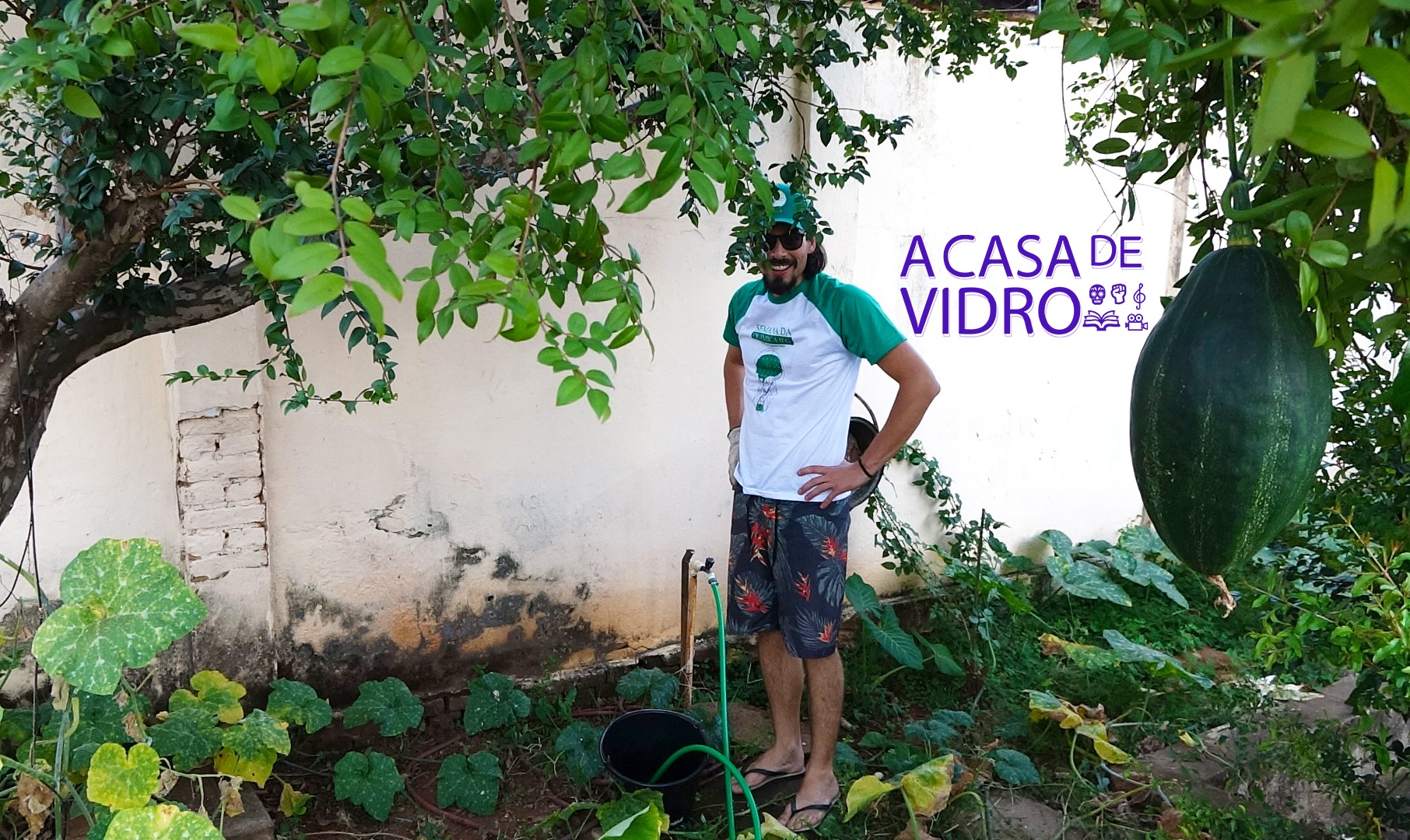Notícias mais recentes:
A CONVIVÊNCIA COM OS FANTASMAS – Sobre a obra de Jacques Derrida (por Eduardo Carli de Moraes)
A CONVIVÊNCIA COM OS FANTASMASJacques Derrida e alguns de seus espectros por Eduardo Carli de Moraes 1. INTRODUÇÃO “Jacques Derrida (1930 – 2004) praticamente não teve equivalente (…) para forjar o espírito de toda uma geração”, escreveu Jurgen Habermas, pouco depois da morte do filósofo francês em 2004, em...
Publicado em: 18/02/23
ESTILHAÇOS DE INDIGNAÇÃO E ESPERANÇA – UMA SOCIOLOGIA À ALTURA DE JUNHO, POR RUY BRAGA EM “A PULSÃO PLEBÉIA” (ALAMEDA/FFLCH-USP)
UMA SOCIOLOGIA À ALTURA DE JUNHO Por RUY BRAGA em seu livro A PULSÃO PLEBÉIA (Ed. Alameda) Artigo na íntegra @ Boitempo Imagem: 17 de Junho de 2013. Congresso ocupado por manifestantes. Em meados de março de 2013, uma pesquisa realizada pelo instituto Ibope revelou que a popularidade da...
Publicado em: 31/03/16
NICOLAU SEVCENKO (1952 – 2014) – In Memoriam
NICOLAU SEVCENKO (1952 – 2014) Biografia via Revista Fórum: “Filho de imigrantes russos vindos da região da Ucrânia, Sevcenko nasceu em São Vicente, no litoral paulista. Formou-se em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), em 1975, e se dedicou ao...
Publicado em: 16/08/14