
Sambando Antes do Nada: lirismo e finitude na cadência do samba – Por Eduardo Carli
“Deixa eu curtir essa alegria
Antes que retorne o dia
Em que eu volte a ser nada.”
Leci Brandão
“Para fazer um samba com beleza
É preciso um bocado de tristeza”.
Vinícius de Moraes e Baden Powell, “Samba da Benção”
Samba, é bom reafirmar o óbvio, não é sinônimo de alienação: não é a ração sonora pra quem quer ignorar as verdades mais basilares da existência, os mais amargos fatos da vida, mas sim uma forma de arte afrodiaspórica, que enraizou-se no Brasil após cruzar o Atlântico Negro, nascido do semba africano e que aqui virou arruaça libertária, prima ao sul do que é o blues ao norte da América. Samba: o que permite transfigurar o sofrimento em lirismo, metamorfosear a dura lida cotidiana em beleza, ou filosofar sobre o tempo com o auxílio de ritmo, melodia e harmonia, ou melhor, batuque, cantoria e cadência – como fizeram tão lindamente Nelson Cavaquinho, Cartola, Leci etc.
Cláudia Neiva de Matos, em seu belo artigo “O lirismo no samba”, analisa as palavras de Cavaquinho – muitas delas escritas em parceria com Guilherme de Brito – do ponto de vista das “artes da palavra”, da “poesia e do fascínio que ela provoca”, tentando compreender o viés ético, a conduta na existência que estas letras implicam. Aponta ao ouvinte que, após um levantamento estatístico dos temas dominantes nestas canções, nota-se a primazia de “amor e sofrimento por amor, Deus e religiosidade, envelhecimento e morte. Também se destacam o apego à Mangueira e o valor da amizade e do companheirismo.” (p. 133)
A autora destaca ainda que “o que é mais recorrente do que qualquer desses assuntos é a presença de uma ótica moral presidindo à sua abordagem, uma perspectiva simultaneamente tributária da justiça divina, do ethos comunitário e do caráter individual. Essa perspectiva, e não o mero transbordamento emocional ou o trato deliberadamente estético da linguagem, é que vai dar ao sujeito seu perfil singular, sua nobreza e por meio dela que ele realmente se afirma, se identifica.” (p. 123)
Temos bons exemplos desta atitude do sambista de encarnar um eu lírico que, através de um prisma moral, faz comentários sobre as pessoas e suas condutas na época de que são contemporâneos em “Notícia” ou “Ninho Desfeito”:
Os sambistas também podem ser considerados como filósofos do tempo. Buscam a sabedoria sobre como fluirmos bem, barcolas no rio do tempo, que não apenas se deixam arrastar no rumo em que o vento e a paisagem sopram a correnteza. Que fazem dos remos instrumentos para às vezes ir contra a corrente, outras vezes para produzir um batuque.
Filósofos do tempo na práxis, os sambistas podem ser cronistas do tempo histórico que vivem, mas também anunciadores de uma utopia (“a luz há de chegar aos corações / do mal será queimada a semente…”). Eles já prefiguram esta alternativa de mundo na própria realização de sua arte onde se encarna a resiliência dos povos da diáspora africana que se recusam ao silenciamento e à subserviência.
São também os executores de um ritmo cuja temporalidade singular encanta o mundo e constitui uma unicidade cultural brasileira que nos celebrizou internacionalmente: sambistas vão em busca da sabedoria que consiste em manter-se firme no compasso binário, com sua pulsação infectante, com sua irresistibilidade que convoca o corpo ao movimento, mas sem nunca cair na previsibilidade marcial. Eles sempre gostam dumas boas síncopes para bagunçar um pouco (ou muito) o coreto.
Na “cadência do samba”, como escreveu Ataufo Alves, a gente pode aprender uma atitude que, ao invés da negação da morte analisada por Ernest Becker, encara com coragem e lucidez a nossa condição mortal: “sei que vou morrer, não sei a hora / levarei saudade da aurora / quero morrer numa batucada de bamba / na cadência bonita do samba.” Filósofos da boa morte, os sambistas ensinam que acabar-se é necessário e que, portanto, melhor se acabar numa batucada de bamba, gozando as fugazes alegrias que são permitidas a nós, transeuntes do tempo.
No samba desenha-se uma temporalidade ritmada que muitas vezes serve de amparo para que um eu-lírico derrame-se sobre a condição humana enquanto carnalidade no tempo embarcada e com a morte sempre inclusa e nunca recalcada. Afinal, como canta Leci, um dia cada um de nós volta a ser nada. Antes disso, deixem a gente curtir estas alegrias efêmeras de que a vida é dotada apesar de todas as suas penas. A morte é inexcluível, faz parte visceralmente da vida, e cantar a vida é cantá-la mortal e tantas vezes insensata.
“Folhas Secas” é um dos exemplos mais explícitos de um samba que inclui filosofagens sobre o tempo: escrita por Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito, em 1973, gravada por Elis Regina e por Beth Carvalho, fala sobre nossa efêmera vida evocando uma época futura onde o canto se calará, quando não mais se sambará:
Quando o tempo avisar
Que eu não posso mais cantar
Sei que vou sentir saudade
Ao lado do meu violão
Da minha mocidade…
A canção começa com uma cena de filme outonal em que alguém “pisa em folhas secas caídas de uma mangueira” e pensa em algo ausente: sua escola de samba e os poetas da Estação Primeira de Mangueira. As folhas que perderam o verde e o viço, que se soltaram das árvores onde estavam vivendo, servem como símbolo da passagem do tempo na natureza. Folhas secas são folhas mortas, no entanto caindo na terra estas folhas fertilizam e contribuem para a eclosão das sementes de novas vidas.
Na interpretação de Cláudia Matos, em “Folhas Secas” “a imagem double face do título vai encorpando seu sentido ao longo do texto, numa dupla e complementar direção: por analogia metafórica com o sujeito que envelhece e se acaba, consumido pelo sol de cada dia, as folhas secas apontam para a finitude do indivíduo; por aproximação metonímica com ‘as folhas caídas de uma mangueira’, as mesmas folhas secas apontam para a sobrevivência do poeta na memória dos seus.” (p. 126)
O poeta-sambista sabe que vai morrer, que é semelhante a uma folha que um dia vai secar e cair da árvore. Mas sabe também que “mangueira” não é apenas uma árvore frutífera, mas o nome de uma instituição cultural. A escola de samba é aquela que em “Pranto de Poeta” ele afirmará também como uma espécie secular de força coletiva de consagração: “em Mangueira quando morre um poeta todos choram / vivo tranquilo em Mangueira porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer.”
O eu-lírico descreve seu flanar pelo mundo, mas destaca uma geografia do alto e do baixo, do subir e descer o morro: são incontáveis as vezes em que ele subiu o morro cantando, sempre o sol lhe queimando, e é esta movimentação toda, este sobe-desce, o que está levando ao “acabar-se”. A ponto de já se sentir um tempo vindouro onde o canto não será mais possível. O tempo virá avisar que está chegando a hora do silêncio. Prevendo o mutismo que vem, o eu-lirico prevê a saudade.
Este é um dos elementos líricos mais interessantes de “Folhas Secas”: para além daquele velho clichê que afirma ser a palavra “saudade” uma exclusividade da língua portuguesa em terra brasilis e intraduzível à perfeição para outros idiomas, o que mais interessa aqui é o tempo desta saudade. Não se trata de um sujeito, no presente, lamentando a perda ou ausência de algo que não está ali, mas alguém que prevê a saudade futura. Mais até do que prever, ele “sabe que vai sentir saudade”, que algum amanhã lhe reservará a experiência de sentir falta do violão, da cantoria, da mocinha.
Beth Carvalho, no álbum Nome Sagrado, honrou a obra de Nelson Cavaquinho através de 20 de suas canções clássicas. O crítico musical Tárik de Souza escreve: “se tivesse nascido nos EUA, Nelson Cavaquinho (1911-1985) seria um daqueles bluesmen lendários, citados como influência por nove entre dez popstars. Mas como vicejou no periférico Brasil, mal teve as flores da glória em vida (muito menos em ervanário), como reivindicava com o parceiro Guilherme de Brito em “Quando eu me chamar saudade”.
Em geral de enredos soturnos e pessimistas, os sambas em tons menores elaborados por esse Schopenhauer de arrabalde, iniciado no choro no instrumento que lhe valeu o sobrenome artístico, quase não são regravados. A geração do pagode de butique, agora em fase declinante, passou batida por esse Baudelaire acantonado no Cabaré dos Bandidos.” (Jornal do Brasil, 30/12/2001. Coletado no livro Tem Mais Samba, ed. 34, p. 97)
As “Folhas Secas” também nos abrem o ensejo para falar sobre o quanto sambistas gostam de filosofar sobre a natureza: as folhas que estavam nas plantas, o morro que se sobe enquanto o Sol nos queima, tudo é índice daquelas “Forças da Natureza” também referidas no belíssimo samba de Paulo César Pinheiro e João Nogueira imortalizado pela voz de Clara Nunes.
A força natural é de tal grandeza que o humano nada pode contra ela: “ir se acabando” é algo inelutável, assim como é inelutável que amanhã de manhã o sol se alce novamente fazendo raiar novo dia. Em “Juízo Final”, o mesmo Nelson Cavaquinho inicia cantando que “o sol há de brilhar mais uma vez” e que “a luz há de chegar aos corações”:
Do mal será queimada a semente
O amor será eterno novamente
Aqui, de novo, com o abuso de paradoxos, o poeta promete ao amor uma eternidade que ele já teve mas perdeu. Aquilo que foi eterno e não é mais – um amor que se descobre passageiro – será transcendido por um novo amor eterno. Que decerto acabará, estejam certos. Há algo aqui daquela estética do amor típica também de Vinícius de Moraes: “Que não seja imortal, posto que é chama / Mas que seja infinito enquanto dure.” (Soneto de Fidelidade) A esperança também invoca a queima das sementes do mal.
Matar o mal na semente também é um dos temas de “Forças da Natureza”: canção profética, samba messiânico, de viés quase apocalíptico por vezes (“os palácios vão desabar sob a força de um temporal”), evoca a força do mesmo Sol que brilha sempre outra vez em “Juízo Final”. Utópica, promissora de um porvir melhor, a canção diagnostica uma distopia, um tempo onde está tudo fora de lugar como a Dinamarca cheia de podridão para o príncipe Hamlet após o assassinato de que é vítimas seu pai, o Rei Cláudio: time is out of joint.
Este tempo desconjuntado, de ponta cabeça, será transcendido e tudo vai voltar ao seu devido lugar – é o que promete o sambista, apontando que o caminho para lá consiste sobretudo na rebelião:
Os homens vão se rebelar
Dessa farsa descomunal
Vai voltar tudo ao seu lugar
AfinalVai resplandecer
Uma chuva de prata do céu vai descer
O esplendor da mata vai renascer
E o ar de novo vai ser naturalVai florir
Cada grande cidade o mato vai cobrir
Das ruínas um novo povo vai surgir
E vai cantar afinal
As pragas e as ervas daninhas
As armas e os homens de mal
Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval
Os sambistas não recalcam a morte, nem mesmo a possibilidade de morte do próprio samba: como canta Nelson Sargento, “samba: agoniza mas não morre / alguém sempre te socorre / Antes do suspiro derradeiro.” Desfigurado, censurado, perseguido, embranquecido, comercializado, ele resiste e convoca seus partidários a se engajarem: “não deixe o samba morrer, não deixa o samba acabar!”
O sambista também não está alheio a preocupações com sua reputação post mortem: como canta Ataufo, “meu nome ninguém vai jogar na lama / diz o dito popular: / morre o homem e fica a fama.” Preocupações funerárias também afloram muitas vezes, inclusive com recomendações a respeito da indumentária que o sambista deseja para seu defunto: “Quando eu morrer, me enterre na Lapinha / Calça, culote, paletó almofadinha.” (Baden Powell)
A voz de Clara Nunes entoa no samba portelense um tema recorrente: “quando eu morrer eu quero uma batucada / para me levar à minha última morada”. Ser conduzido ao túmulo por uma batucada, onde mesclem-se lágrimas de lamento com o gozo desavergonhado dos que vivos, indica o suficiente o quanto os sambistas são filósofos da boa vida e da boa morte.
Antes que retornemos ao nada de onde proviemos, para retomar um tema Lucreciano que ecoa no carpe diem carnavalesco de Leci Brandão, reivindicamos que nos deixem “curtir esta alegria”. Afinal de contas, no fim desta travessia efêmera da vida iremos compartilhar do mesmo destino das folhas secas, caídas de uma mangueira, que inconscientemente caem à terra para alimentar a continuação infinda da Vida (geral) que transcende qualquer vida (particular).
Desprendidos da árvore dos vivos, com a morte nossos corpos cairão como folhas secas na Terra de onde emergiram e da qual sempre estiveram sendo nutridos, enquanto a batucada dos que resistem vivos, ao menos por um tempo, segue celebrando a dialética entre as sementes e as podridões, sambando a dança entremesclada entre os primeiros gemidos dos recém-nascidos e os últimos suspiros dos agonizantes.
O que o samba pede não é a alegria dos tolos ou ingênuos, que põem vendas nos próprios olhos para não enxergar toda a tragicidade da existência, afinal alegria é a melhor coisa que existe”, mas “pra fazer um samba com beleza / É preciso um bocado de tristeza / Senão, não se faz um samba não” (“Samba da Benção”, de Vinícius e Baden).
A vida, segundo o samba, consiste em abraçar “A Flor e o Espinho” (Nelson Cavaquinho), acolher o trágico e o cômico, o sublime e o horrível, na sabedoria de quem não quer se iludir sobre este Mundo-Moinho de que nos canta Cartola:
“Ouça-me bem, amor
Preste atenção, o mundo é um moinho
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos
Vai reduzir as ilusões a pó.
Preste atenção, querida
De cada amor, tu herdarás só o cinismo
Quando notares, estás à beira do abismo
Abismo que cavaste com teus pés.”
A sabedoria do samba consiste em transformar o “sei que vou morrer, não sei a hora” e os “abismos que vamos cavando com os pés” em uma razão para a batucada absurda e insensata. Já que viver obriga a morrer, melhor ir na ritmada caminhada conjunta de mortais que se sabem como tais e que inventam modos lúdicos de conviver com o inelutável, criando beleza até mesmo no anúncio musicado de nossa própria precariedade radical. O samba melhora nossa caminhada conjunta na direção da “última morada”, onde nosso fado, iluminado sombriamente pela “luz negra de um destino cruel”, será semelhante ao das folhas secas: desconstituídas de sua pertença ao todo-árvore que lhes dava vida, dissolvem-se nos átomos constitutivos e indestrutíveis com os quais o Universo segue sua dança infindável de criação e destruição fabricando cadáveres, crianças, batuques e tudo mais.
Eduardo Carli de Moraes
Abril de 2021
P.S.
UM MITO IORUBÁ – Por Luiz Antonio Simas no livro “Arruaças”
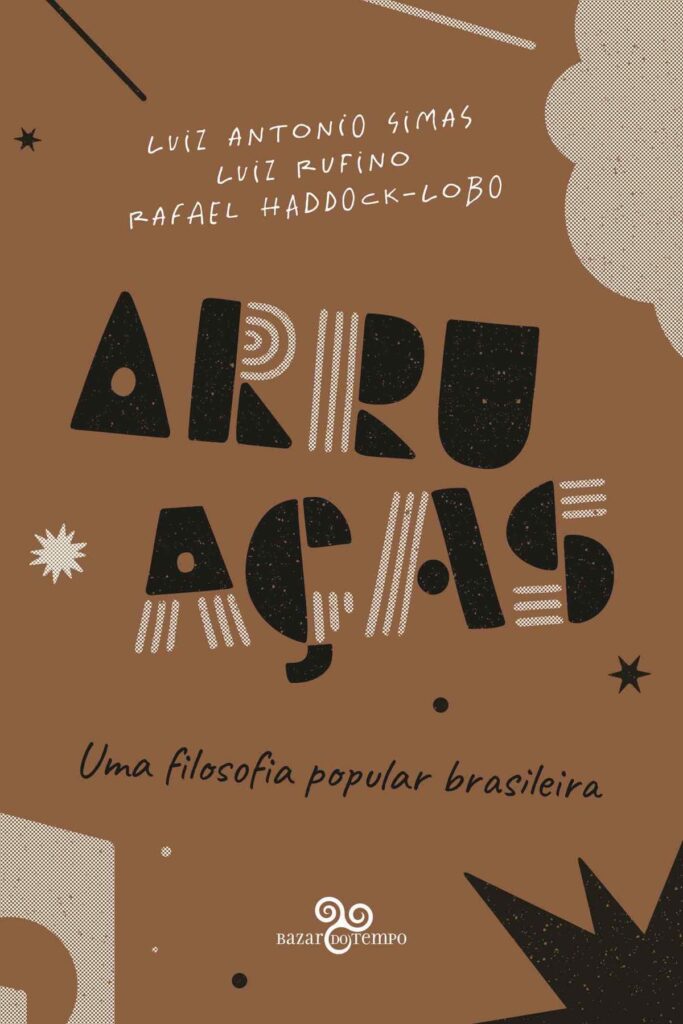
O mito da morte como propiciadora da vida é fundamental para os iorubás. Ele ensina que Olodumarê, o deus maior, um dia deu a Obatalá a tarefa da criação dos humanos, para que eles povoassem a terra. Obatalá moldou os seres a partir do barro. Para isso, pediu a autorização de Nanã, a senhora que tomava conta da lama. Os seres humanos, depois de moldados, recebiam o emi – sopro da vida – e vinham para a terra. Aqui viviam, amavam, tinham filhos, plantavam, se divertiam e cultuavam as divindades.
Um dia, o barro com o qual Obatalá moldava os seres foi acabando. Olodumarê convocou os orixás para que eles apresentassem uma alternativa para o caso. Como ninguém encontrou solução, e diante do risco da interrupção do processo de criação, Olodumarê determinou que se estabelecesse um ciclo. Depois de certo tempo vivendo, os seres deveriam ser desfeitos, retornando à matéria original, para que novas pessoas pudessem, com parte da matéria restituída, ser moldadas.
Resolvido o dilema, restava saber de quem seria a função de tirar o sopro da vida e conduzir as pessoas de volta ao todo primordial. Foi então que Iku, até ali calado, ofereceu-se para cumprir a tarefa. Olodumarê abençoou Iku. A partir daquele momento, ele tornava-se imprescindível para que se mantivesse o ciclo da criação.
Desde então, Iku vem todos os dias ao mundo para escolher os homens e mulheres que devem ser reconduzidos. Seus corpos devem ser desfeitos e o sopro vital retirado para que, com aquela matéria, outros seres possam ser feitos, dando assim continuidade à renovação da existência. Ao ver a restituição das mulheres e dos homens ao barro, Nanã chora. Suas lágrimas amolecem a matéria-prima e facilitam a tarefa de moldagem de outras pessoas.
O mito de Iku celebra o mistério maior da beleza furiosa da morte como viabilidade, pela restituição dos seres ao todo primordial, da grande festa de outras vidas. Por outro lado, entramos em guerra contra Iku quando ele rompe o pacto e quer nos levar antes do determinado, usurpando nossa vivacidade com táticas cotidianas de produção da aniquilação do ser. Aí, o embate entre Orunmilá – o destino – e Iku – o que pode burlar o destino – se estabelece.
APRECIE TAMBÉM A PLAYLIST: As Filosofias do Samba – Batuque e Sabedoria. Curadoria: A Casa de Vidro
Publicado em: 12/02/26
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes
2 cometários
Ainda bem, antes de/do nada, adicionar a filosofia nos elos que tecem os sambas !
Pedro Augusto Lessa
Comentou em 29/04/21
Olodumarê determinou que se estabelecesse um ciclo. Depois de certo tempo vivendo, os seres deveriam ser desfeitos, retornando à matéria original, para que novas pessoas pudessem, com parte da matéria restituída, ser moldadas.





Eugenio Malta
Comentou em 27/04/21