
“NÓS SOMOS O CLIMA”: Para Jonathan Safran Foer, salvar o planeta da hecatombe ambiental deve começar pelo desmantelamento do carnismo e da pecuária industrial
“O primeiro mamífero a vestir calças”, como canta o Pearl Jam nesta obra-prima do sarcasmo grungy, é mesmo um bicho bem bizarro. Um exemplo: todos os anos, em meados de Novembro, cerca de 46 milhões de perus são devorados pelos cidadãos dos Estados Unidos da América no Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day), um feriado nacional que conta com a adesão de cerca de 96% das famílias do país.
Nas celebrações de Natal, outros 22 milhões de perus são comidos nos EUA enquanto os cidadãos celebram o nascimento de Jesus; e na Páscoa, mais 19 milhões de perus mortos vão parar nas barrigas cheias-de-fé dos estadunidenses (os dados são da Universidade de Illinois, Turkey Facts).

Diante duma comilança de tal extensão, alguns memes veganos e campanhas da PETA emergem na internet e nas ruas alfinetando a maioria carnista com questões inconvenientes como: “você não comeria seu cachorro, então por que comer um peru?” ou “você não pode expressar gratidão sem tirar a vida de outros?”
Os artistas da comédia gráfica não ficam atrás e disparam também seus sarcasmos contra os cidadãos-de-bem que palitam os restos da carne de peru entre seus dentes enquanto descansam frente à TV onde prega o pastor neopentecostal. “I can kill cause in God I trust” (“Eu posso matar pois em Deus eu creio”), como canta o sarcástico eu-lírico de Eddie Vedder na música mais punk (e no clipe mais brilhante) do Pearl Jam, “Do The Evolution”.
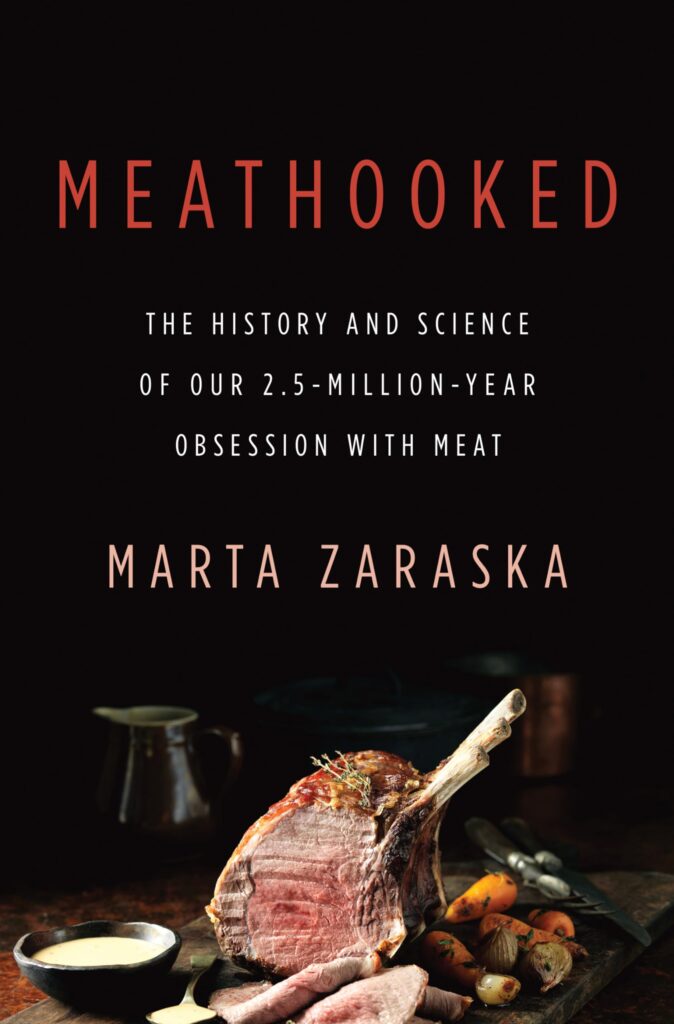
Na somatória, estes três dias de festividades religiosas cristãs – Ação de Graças, Natal e Páscoa – acarretam uma hecatombe de 87 milhões de perus nos EUA apenas. Segundo a jornalista de ciência e autora do livro Meathooked, Marta Zaraska, várias festividades de caráter religioso, através da História, puseram a carne em posição privilegiada como uma espécie de propiciadora da comunhão. Estas tradições patriarcais e teocráticas que construíram a carne como alimento festivo e comunal também forjaram a ideologia da masculinidade conectada ao churrasco: assim, este tóxico construto social começou a pregar que macho de verdade come carne e que os vegetarianos são um bando de afeminados.
Este tipo de ideologia preconceituosa expressa algo de profundo: o vínculo entre a construção histórica do carnismo em conexão com o patriarcado, a masculinidade tóxica e a nossa tendência à adesão conformista às tradições religiosas da cultura em que crescemos (sobre o tema, ver também A Política Sexual da Carne, de Carol Adams).
Minha intenção ao escrever os dados de perus aos milhões sendo comidos nos EUA não é tanto o de deixar o leitor boquiaberto diante destes números estratosféricos; o que na verdade me parece ainda mais estarrecedor é este fato: estes números – 87 milhões de perus devorados em um único país em apenas 3 festividades – ainda são baixíssimos. É aos bilhões que devemos contar os animais que matamos anualmente em nosso sistema de produção alimentar. Mais precisamente: 53 bilhões (um número dotado de nove zeros: 53.000.000.000) de animais são “terminados” nos matadouros deste planeta, ano a ano (estatística veiculada pelo filme The End of Meat).
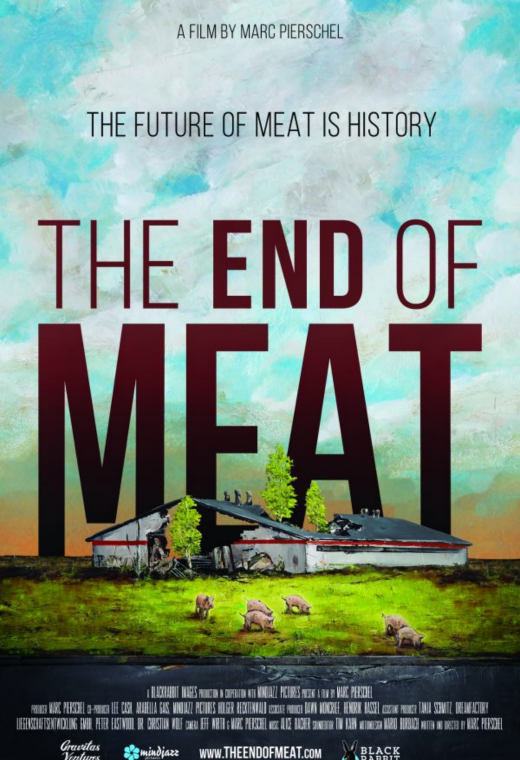
A imensa maioria das pessoas que participa de tais “rituais” como o Thanksgiving não vê problema algum nisso – e mais, acreditam piamente que estão with God on their side. Afinal, crêem em um deus que lhes deu o direito de dominação sobre o resto dos animais: a arrogância antropocêntrica conhecida por “especismo” (cf. Peter Singer) encontra aqui seu álibi num livro ungido como sagrado, apesar de ter sido obviamente escrito por animais humanos interessados em justificar seu domínio opressivo com argumentos teológicos.
Como seria possível convencer estas multidões responsáveis por 53 bilhões de bichos devorados ao ano de que tal comilança carnívora acarreta danos ambientais extremos, que serão sentidos mais intensamente pelas futuras gerações? Como persuadir que o consumo humano de carne deve ser drasticamente diminuído caso queiramos garantir condições dignas de existência para os que ainda vão nascer?
Eis um dos desafios supremos para a educação: já que old habits die hard (velhos hábitos morrem com dificuldade), como faremos para conquistar as massas para uma crucial mudança de regime alimentar e de produção agropecuária, sem as quais estamos condenados a uma agonia monstruosa?
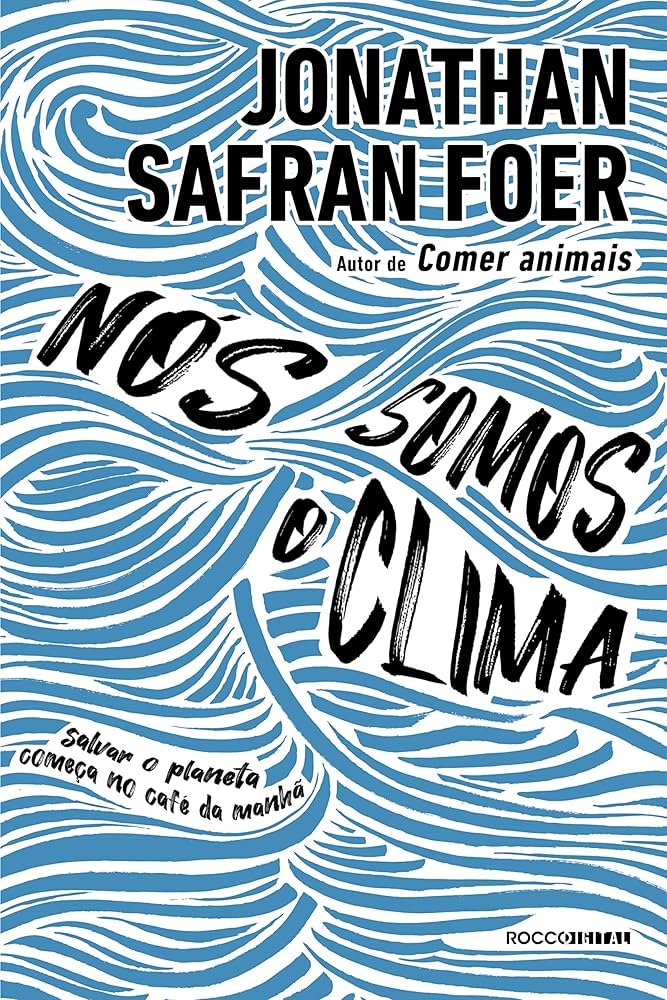
Os desafios envolvidos na persuasão dos cidadãos do mundo em prol de uma dieta baseada em plantas são um dos temas principais de Jonathan Safran Foer em seu novo livro Nós Somos o Clima (Rocco, 2020), que dá sequência à sua obra de não-ficção anterior, o magistral Comer Animais [ler o artigo em A Casa de Vidro].
Mesmo diante do acúmulo de evidências científicas que explicitam os vínculos entre o Efeito Estufa e o atual modelo de produção agropecuária (factory farming), é difícil para os ativistas vegetarianos e veganos romperem com uma muralha erguida contra eles por uma maioria de carnívoros que mordiscam seus Big Macs, nuggets e salsichas, diante da televisão repleta de anúncios de hambúrguer e bacon, condicionados a não ouvir ou mesmo a ofender e insultar todos aqueles que são lidos como “eco-chatos”.
O autor, baseado sobretudo nos artigos científicos que referencia em profusão na obra (329 referências!), afirma que mais de 50% do aquecimento global tem relação direta com a pecuária industrial: o agronegócio é sim um vilão tão ou mais destrutivo que a indústria dos combustíveis fósseis. Jonathan tem uma proposta prática de solução paliativa e parcial para este problema que é bem simples de enunciar, mas dificílima de concretizar:
“Este livro é um argumento a favor de uma ação coletiva para mudar nossos hábitos alimentares. Essa mudança se resume em: nenhum produto de origem animal antes do jantar. É difícil apresentar esse argumento, tanto porque é um assunto muito carregado quanto por causa do sacrifício envolvido. A maioria das pessoas gosta do aroma e do sabor da carne, de laticínios e de ovos. A maioria das pessoas dá valor aos papéis que os produtos de origem animal têm em suas vidas e não está preparada para adotar novas identidades alimentares.
A maioria das pessoas come produtos de origem animal em quase todas as refeições desde a infância, e é difícil mudar hábitos que duram a vida toda, mesmo quando não estão imbuídos de prazer e identidade. Esses são desafios significativos, não somente dignos de serem considerados, mas nos quais devemos prestar atenção. Mudar nossa maneira de comer é algo simples se comparado a converter o sistema de geração de energia mundial ou suplantar a influência de lobistas poderosos contra a aprovação de leis que determinam impostos sobre gás carbônico, ou mesmo ratificar um importante tratado internacional sobre emissões de gases de efeito estufa – mas não é simples.” (p. 74)
Salvar o planeta exigiria, segundo Jonathan Safran Foer, uma mudança que começa no café-da-manhã e no almoço: proibir-se carne nestas duas refeições já causaria um impacto positivo considerável em nossa pegada ecológica coletiva mas também mostraria que estes são sacrifícios razoavelmente moderados e suaves, na verdade bastante suportáveis, em comparação com os sacrifícios de muito maior gravidade e extensão que teremos que fazer em um mundo assolado pela disrupção climática desenfreada.
Polemizando com o movimento social Extinction Rebellion, que acusa de ser “vago” e pouco propositivo em termos de atitudes concretas, Safran é hoje em dia o porta-voz de um certo “pragmatismo” diante da crise planetária: seria preciso começarmos, em massa, pelo que está mais acessível em termos de mudança de atitude, de conversão de ethos, aquilo que escolhemos comer. Não é o suficiente, mas é um bom começo.
Uma das questões centrais do livro é: será que a pecuária industrial é responsável por mais da metade do aquecimento global? Uma questão que é ainda tabu, pouco colocada no debate público, silenciada pelo poderio das megacorporações que lucram com a transformação de animais em mercadorias. A Ciência, no entanto, nos convida a colocar esta pergunta com seriedade.
Em 2009, o Wordwatch Institute publicou um relatório em que questionava: “e se os atores-chave das mudanças climáticas forem… vacas, porcos e galinhas?” (Acessar PDF completo em inglês) Os autores Robert Goodland e Jeff Anang argumentavam que 51% de todo o aquecimento global estava relacionado com a pecuária industrial, colocando em dúvida a tradicional explicação do Efeito Estufa antropogênico que o atribui sobretudo à queima de combustíveis fósseis.
Sem querer desprezar a contribuição significativa das emissões de CO2 conexas a botarmos fogo em petróleo, carvão e gás natural, é preciso averiguar seriamente o quanto do Efeito Estufa está conectado com o modo como produzimos nossos alimentos.
O índice da Worldwatch, de 51% de “culpa” da indústria da carne no Efeito Estufa, contrariava um relatório publicado pela FAO/ONU três anos antes: em Livestock’s Long Shadow (acessar PDF), de 2006, a FAO avaliava que a agricultura animal era causadora de 18% das emissões globais de gases de efeito estufa – um índice que, apesar de mais modesto, representava um efeito de aquecimento do planeta maior do que todo o setor de transportes.
O que explica a discrepância entre os 18% do relatório da FAO e os 51% do Worldwatch Institute? Primeiramente, o “fator desmatamento”: a presença de florestas é essencial para a “captura” do CO2 na atmosfera; quando o agronegócio pecuarista pratica o desmatamento para abrir espaço para fazendas de gado, ele está sabotando justamente aquilo que nos ajudaria a controlar o aumento das temperaturas globais. A Worldwatch pôs este elemento em sua conta, a FAO não.
Outro elemento diz respeito à respiração e flatulências dos próprios animais criados para serem comidos, já que eles expelem altos índices de metano e óxido nitroso, gases que contribuem com o efeito estufa de modo muito mais grave do que o CO2, e que também precisam ser computados em qualquer estimativa deste tipo. (cf. FOER, 2020, pg. 104 – 248)
Segundo Foer,
“o cálculo da FAO inclui o CO2 emitido quando florestas são derrubadas para plantação voltada a ração animal e pasto, mas não leva em conta o CO2 que essas florestas deixam de absorver (imagine um seguro de vida que cobre os custos do enterro, mas não a perda dos salários futuros). (…) Quando pesquisadores no Worldwatch Institute incluíram as emissões que a FAO ignorou, eles estimaram que a pecuária é responsável por 32 milhões e 564 mil toneladas de CO2 por ano, ou 51% das emissões globais anuais – mais do que todos os carros, aviões, prédios, usinas de energia elétrica e a indústria juntos.” (p. 105)
O IPCC, talvez o mais confiável painel científico internacional sobre as mudanças climáticas antropogênicas, também afirma sem nenhuma ambiguidade que é preciso comer menos carne para ajudar o planeta a não ter suas temperaturas incrementadas a níveis catastróficos (leia mais na BBC e na Time).
Talvez não seja apenas sensacionalismo vegano dizer que “toda vez que alguém come frango está assassinando um papagaio na Amazônia” – a tese expressa pelo ecologista B. Machovina é que o consumo de carne em excesso é diretamente responsável pela extinção da biodiversidade, sendo a Amazônia um dos epicentros terrestres da diversidade-da-vida hoje em colapso.
Segundo a estimativa de Machovina, cerca de 75% de todo o desmatamento da Amazônia têm duas motivações: abrir espaço para o gado, ou abrir espaço para plantar soja e milho que será alimento para gado. O Brasil hoje exporta uma quantidade estratosférica de grãos que irão alimentar animais presos na engrenagem da factory farming enquanto nossa própria população passa fome em números assustadores (depois de Temer e Bolsonaro, a insegurança alimentar e a miséria só aumentaram, fazendo-nos re-entrar no ignomioso Mapa da Fome da ONU).
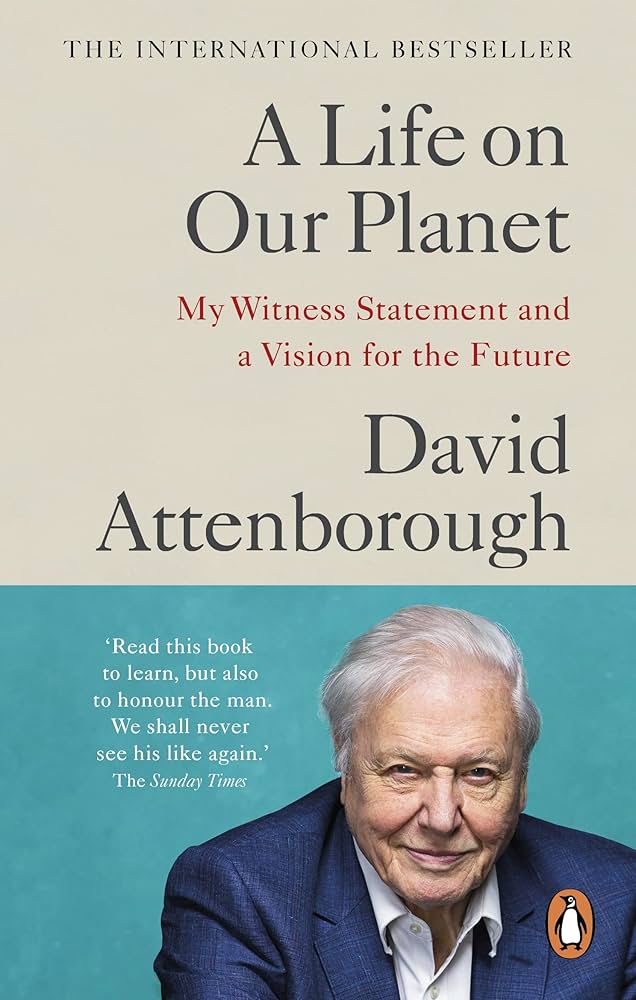
Em seu livro e filme mais recente, A Life On This Planet, David Attenborough mostra a extensão assustadora da biomassa terrestre que é composta pelos animais criados pelos humanos para que virem comida. Sobre isso, Safran Foer indica 5 dados estarrecedores:
- Globalmente, humanos usam 59% de toda a terra cultivável para o plantio de alimento para gado.
- Um terço de toda a água potável que os humanos usam vai para o gado, enquanto somente cerca de um terço é usado em residências.
- 70% dos antibióticos produzidos globalmente são usados em gado, enfraquecendo a eficácia dos antibióticos para tratamento de doenças humanas.
- 70% de todos os mamíferos na Terra são animais criados para a alimentação.
- Existem aproximadamente 30 animais criados para pecuária para cada humano no planeta. (FOER, p. 89)
Haverá um dia, no futuro, em que as gerações de humanos que ainda não nasceram olharão para trás com horror e desgosto diante da atual banalidade das slaughterhouses onde os animais são tratados como coisas e commodities? Nascerá um dia um mundo onde a opressão, a violência e a crueldade contra animais não-humanos será percebida como uma doentia perversidade praticamente pelos animais humanos em sua húbris prepotente?
Isso me leva a pensar na “banalidade do mal”, conceito forjado por Hannah Arendt em sua análise do julgamento do criminoso nazista Eichmann, e no quanto ela pode aplicar-se também a outras realidades chocantes que nos acostumamos a banalizar. Como negar que seja uma encarnação do mal no mundo contemporâneo a discrepância entre os milhões de humanos que passam fome e os bilhões de bichos que alimentamos com grãos para que alguns possam comer animais transformados em hamburguers e bacon?
Os bilhões de animais – sobretudo vacas, porcos e galinhas – que são criados em confinamento nas fazendas do agrobusiness são um exemplo notável de uma normalidade obscena. Ela é escondida de nossos olhos, posta atrás de véus espessos, construída pela ideologia hegemônica como normal e aceitável, mas sobretudo é uma realidade horrorosa que se esconde detrás de paredes e de arame farpado onde se lê – PRIVATE PROPERTY – NO TRESPASSING.
Como bem disse Paul McCartney, “se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seríamos vegetarianos” – uma hipérbole, é claro, mas que nos ajuda a pensar que a transparência típica do vidro precisaria vir iluminar as consciência que hoje vestem os óculos opacos da ideologia carnista, normalizando o horror em escala massiva enquanto tiram selfies sorridentes mordiscando lanches no Burger King. “Para salvar o planeta, precisamos do oposto da selfie”, palpita Jonathan (p. 46).
Safran Foer evoca as primeiras fotografias que os cosmonautas tiraram do nosso planeta para manifestar sua convicção de que precisaríamos sentir uma pertença visceral à Terra para darmos conta da força de vontade necessária para salvarmos a Teia da Vida da ameaça que nós mesmos nos tornamos:
“A palavra EMERGÊNCIA deriva do latim emergere, que significa “surgir, trazer à luz”. A palavra APOCALIPSE deriva do grego apokalyptein, que significa “descobrir, revelar”. A A palavra CRISE deriva do grego krisis, que significa “decisão”.
Codificado em nossa linguagem está o entendimento de que desastres tendem a expor coisas que antes estavam escondidas. Na medida em que a crise planetária se desdobra como uma série de situações de emergência, nossas decisões revelarão quem somos.
(…) Naturalmente, podemos assumir que, se formos invocar a força de vontade necessária para enfrentar a crise planetária, também teremos de invocar o apreço necessário. Teremos de enxergar a Terra como nossa casa – não de forma idiomática nem intelectual, mas de forma visceral.
Como disse Daniel Kahneman, psicólogo vencedor do prêmio Nobel, ‘é preciso que a questão se torne emocional para que ela possa mobilizar as pessoas.’ Se continuarmos a encarar a luta para salvar nosso planeta como uma partida da próxima temporada, estaremos condenados.” – JONATHAN SAFRAN FOER, Nós Somos o Clima (Rocco, 2020, p. 35 e 38)
O que Safran Foer diz em coro com muitos outros autores ditos “alarmistas”, mas que prefiro chamar de “catastrofistas esclarecidos”, é que não podemos nos dar ao luxo de procrastinar, de deixar para depois a ação, de esperar sentados na bunda e de braços cruzados que alguma solução mágica caia do céu, em resposta a nossas preces.
“A mudança climática não é um quebra-cabeça na mesa de centro, que fica ali para ser montado pouco a pouco na medida em que o tempo permite e que bate vontade. É uma casa pegando fogo. Quanto mais tempo levarmos para lidar com ela, mais difícil vai ser de resolver… A mudança climática é a maior crise que a humanidade já enfrentou… não temos como manter o tipo de alimentação com que estamos acostumados e também manter o planeta com que estamos acostumados.” (p. 77 – 81)
Enquanto escritor situado numa tradição notável – os judeus emigrados da Europa para os EUA, fugindo do Holocausto, e seus descendentes na América -, Safran Foer conecta-se com figuras como Franz Kafka e Isaac Bashevis Singer, mobilizando um estilo de pensamento onde o judaísmo é menos uma crença religiosa do que uma pertença cultural que torna o sujeito indelevelmente marcado por uma certa vivência do martírio: não são poucos os relatos que Jonathan faz de seus parentes sendo assassinados pelos nazistas na Polônia, e não são poucos os vínculos que ele estabelece entre a crueldade fascista e a banalizada violência contra bilhões de animais que nosso sistema de produção de proteína animal perpetra cotidianamente.
As injustiças históricas cometidas por humanos contra humanos sensibilizam o escritor para outras injustiças cometidas por humanos contra animais não-humanos. Mas Jonathan não nos pede a superação total de todo e qualquer antropocentrismo rumo a uma improvável conversão massiva à ética biocêntrica – a valorização da vida humana é suficiente para que questionemos nosso consumo excessivo de carne:
“Cada vida humana está em perigo por causa do consumo exagerado de produtos de origem animal. (…) Se não demonstrarmos solidariedade por meio de pequenos sacrifícios coletivos, não vamos vencer a guerra, e se não vencermos a guerra, vamos perder a casa onde cada ser humano que já existiu cresceu.” (p. 148)
As forças que produzem a crise climática planetária, que causam as hecatombes sócio-ambientais, precisam ser destruídas por nossas decisões. É assim que, em um dos mais belos trechos de seu livro, Jonathan descreve a beleza trágica do mundo que ainda temos uma chance, ainda que pequena, de contribuir para criar:
“Depois da queda do Império Romano, plantas exóticas brotaram pelo chão tingido de sangue do Coliseu; plantas que não se via em lugar algum da Europa. Elas tomaram as balaustradas, estrangularam as colunas, cresceram sem trégua. Por um tempo, o Coliseu foi o maior jardim botânico do mundo, embora não intencional. As sementes tinham sido transportadas nas peles de touros, ursos, tigres e girafas que vinham de milhares de quilômetros de distância para serem abatidos pelos gladiadores. As plantas preencheram a ausência do Império Romano.
(…) Quando eu e minha avó fazíamos caminhadas no parque, ela me dava conselhos de vida… Mais de uma vez, ela colocou sua mão enorme no meu joelho e me disse: ‘Você é minha vingança.’ Essa declaração sempre me deixou confuso… ‘Vingança’ vem do latim vindicare, que significa libertar ou reivindicar. Libertar algo novamente. Reivindicar. A maior vingança contra um genocídio feito para erradicar alguém, erradicar seu povo, é criar uma família. A maior vingança contra uma força que tenta lhe prender ou tomar para si é se libertar novamente, reivindicar sua vida.
Talvez, quando minha avó olhava para os filhos e netos e bisnetos, ela visse algo como um Coliseu cheio de vida pujante, colorida, distinta, espetacular precisamente por sua improbabilidade. Se enfrentarmos a crise ambiental agora, o florescimento da vida no futuro que teremos viabilizado – reivindicado, libertado – talvez tenha esse mesmo semblante.” (p. 118)

Eduardo Carli de Moraes
Goiânia, Novembro de 2020
www.acasadevidro.com
Publicado em: 10/11/20
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes





Renato Costa
Comentou em 10/11/20