Alegoria da masculinidade tóxica, o enigmático “Men”, de Alex Garland (2022), expande os limites do filme de assombração e do horror corporal
De Ifigênia a Eva, passando pelas inúmeras vítimas dos abusos sexuais perpetrados por Zeus, as narrativas míticas com frequência descrevem atrocidades cometidas contra mulheres: a primeira, imolada por seu pai Agamênon nos princípios da Guerra de Tróia, a segunda chutada do Éden por um Deus-Pai que ficou furibundo com o pecado dito original. Em ambos, a autoridade atroz é masculina e a pessoa a ser sacrificada, queimada vida, punida com a Queda e o caralho-a-quatro é uma mulher. A justificativa para o ato sanguinolento é com frequente remetida à vontade divina, num delírio teológico androcêntrico que coloca o princípio masculino como o bambambam do cosmo, o fodão do Olimpo, o Jeová todo-poderoso das galáxias. Como lamentou Lucrécio, “a religião amiúde pariu feitos ímpiros e crimes” e “pôde persuadir a tais males imensos” [1].
Alguns de nós, sem levar a sério demais essas historinhas, podemos ficar tentados a classificá-las como meros contos-de-fada, frutos loucos das psiquês nascidos de uma humanidade em estágio ainda infantilóide. Podemos ler estas mulheres assassinadas, castigadas, estupradas, escorraçadas e oprimidas como meras personagens em narrativas fictícias, ou seja, personas artísticas e destituídas de carnalidade. Esta visão reconfortante – nunca houve de fato uma Ifigênia morrendo sacrificada nos altares, a mando do Papai embriagado com oráculos e cego por ímpetos bélicos, matando a primogênita em prol de um bom clima que permitisse aos helenos zarpar para Tróia em resgate de Helena! tampouco nunca houve uma Eva de carne-e-osso sendo expelida do Paraíso aos gritos por um Papai-do-Céu revoltado contra a violação de seu interdito! – tem um avesso da moeda.
Não é nada reconfortante que narrativas sobre Evas e Ifigênias, por mais fictícias e humanas demasiado humanas que sejam, continuem fundando práticas de sacrifício sangrento em nossos tempos ainda tão vastamente dominados (como denominar este monstro?) pelo Capitalismo Patriarcal Teocrático. Tempos em que The Handmaid’s Tale, de Atwood, deixou de parecer uma distopia hiperbólica para tornar-se um bagulho quase realista. Reciclam-se as tragic ways of killing a woman estudadas por Nicole Loraux.
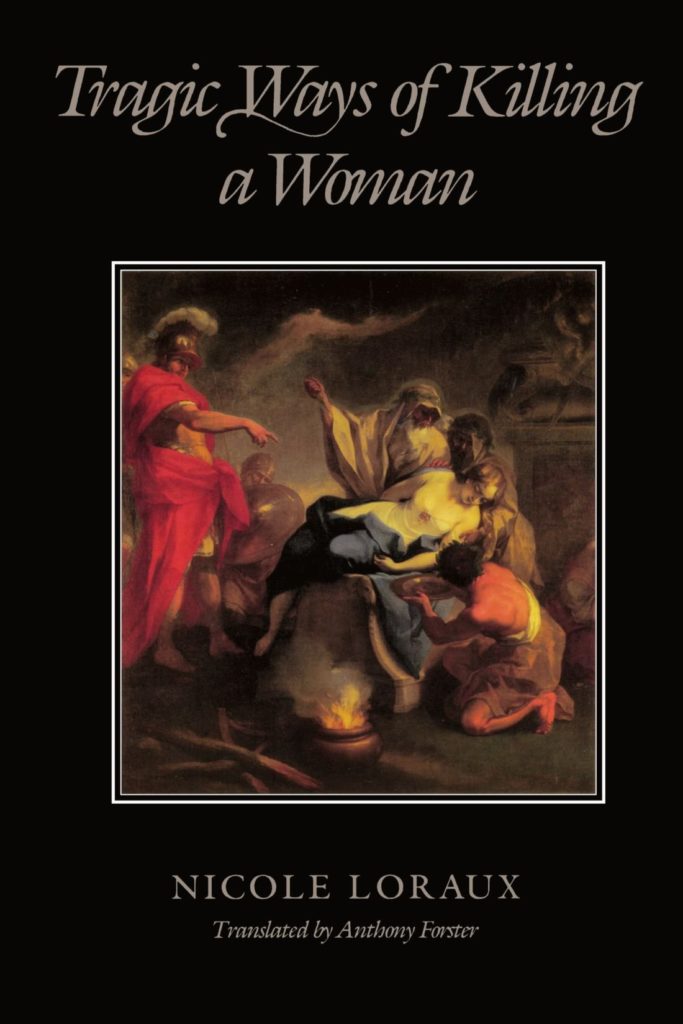
Este monstrengo inominável nascido da fusão do patriarcado com o capitalismo com o fundamentalismo religioso, esta hidra opressora de várias cabeças, adora fixar um fruto proibido (seja ele a maçã, a revolução, o feminismo, a luta anti-racista, o comunismo etc.). E daí autoriza-se a dar plena vazão aos ímpetos autoritários destes machos mandões que enxergam como seu mandato divino a manutenção das proibições de acesso aos suculentos frutos do saber, da autonomia, do erotismo etc.
As placas de proibido e as punições para os insurgentes estão num caminho onde refulgem sinistramente aterrorizantes os dogmas religiosos, e por detrás deles os carrascos com suas cruzes e forcas, com suas fogueiras e ameaças de condenação ao inferno. A isto se coliga uma economia-política capitalista gerida pelo estrato patriarcal: os pais com capital mandando geral. Patriarcado e Capital: aliança criminal. Este sistema de dominação posta-se em face de uma multiplicidade de subalternos e oprimidos que são mantidos “em seu lugar” não apenas com a ameaça do chicote, a bravata e a cacetada da polícia, o perigo de aprisionamento ou repressão, mas também pela captura das consciências pelas narrativas míticas que produzem “A Cartilha do Resignado”, como dizia Oswald de Andrade (em A Utopia Antropofágica) [2].
A papinha metafísica dos mitos é muitas vezes o meio para a dominação simbólica que os masculinistas – os supremacistas do sistema sexo/gênero – preparam como infra-estrutura sobre a qual erguem os sinistros arcabouços de catedrais e prisões, de escolas e abatedouros, onde a mulher é condenada a ser o segundo sexo e deve permanecer submetida ao domínio do primeiro sexo. O sexo que um suposto deus supostamente criou primeiro, à sua imagem e semelhança – a mulher vem depois e fabrica-se a partir de uma costelinha…
O mito da maçã proibida serviria, de maneira pragmática, a lançar sobre a mulher a culpa pela Queda, e assim justificar sua histórica submissão aos descendentes de Adão. É o conceito de pecado, manejado habilmente pelo Patriarcado, não só por reis e papas mas também por padeiros e pobres párocos, que originalmente serve feito uma focinheira que os machos enfiam nas mulheres dizendo que foi criada por Deus (cognominado o “Pai do Céu”).
O Pai do Céu pune o pecado em Adão e Eva mas sobretudo e principalmente para atingir o pecado original da mulher – ela que, no delírio fantasioso do Gênesis, é culpada por ter dado ouvidos à tentação da serpente falante e que é descrita também como fruto derivado de uma reles costela de Adão, este sim sendo o ser humano realmente primeiro. Dou toda razão às feministas que sentem ganas de cuspir em cima deste mito e seu legado.

MEN: EMBLEMA DA MÁSCULA MALEVOLÊNCIA
Malevolência: a vontade má. Em inglês, malevolence começa com male, ou seja, macho. Macho e malevolência em cópula: male violence. É este um pouco o abismo sondado por Men, um dos filmes mais enigmáticos dos últimos anos. Sem usar a expressão masculinidade tóxica em nenhum momento – afinal, não se trata de um panfleto político – o terceiro longa-metragem dirigido por Alex Garland (que havia antes realizado Ex Machina e Aniquilação) parece um pesadelo filmado onde a toxicidade da macheza está impregnando a tela. Nesta história de fantasmas, a mulher está sendo assombrada por gerações de homens malevolentes.

Abordando a batida narrativa da casa mal-assombrada, Garland expande nas vibes e temas presentes nos filmes anteriores, Ex-Machina e Aniquilação, realizando uma inquietante e horripilante alegoria da masculinidade tóxica. Neste thriller psicológico em que consolida-se como um dos cineastas mais relevantes de nosso tempo, a protagonista Harper Marlowe é interpretada pela atriz e cantora irlandesa Jessie Buckley (que atuou em Estou Pensando Em Acabar Com Tudo de Charlie Kaufman, A Filha Perdida de Maggie Gyllenhall, além de atuar-e-cantar em WIld Rose).
Harper é a típica personagem que precisa elaborar um trauma recente que a atormenta: seu marido suicidou-se. Este é, aliás, um dos melhores filmes para aqueles que têm a coragem de confrontar os tabus sociais sobre o suicídio que o recobrem com o silêncio, que o relegam ao campo do “isto não se discute”: Harper, em sua temporada de tentativa terapêutica na “Casa Mal-Assombrada”, será a todo momento acossada pelas últimas brigas do casal. Elas invadem sua vida desperta e onírica, o fantasma deste suicídio o tornam uma personagem cujo adjetivo mais oportuno para decifrá-la oscila entre tormented e haunted.
Através de flashbacks de impacto, que mostram a vida subjetiva dela sofrer a irrupção constante de um passado-que-não-passou, o filme aborda a “compulsão à repetição”, aquilo que prefiro chamar de trauma num loop. O trauma não gera apenas a perda de um vínculo, a necessidade de uma desconexão da libido em relação ao objeto-amado perdido. Para além de precisar elaborar seu processo de luto, Harper parece estar condenada a ser culpabilizada pela morte do seu falecido marido. Ele, nos últimos dias, havia explicitamente tentado transferir a ela a culpa por seu suicídio, por meio de discursos mais ou menos deste teor: “se você me divorciar, eu me mato, e você vai ter que carregar a culpa o resto da sua vida.”

Harper fica compreensivelmente atônita e chocada com esta chantagem emocional, com esta ameaça que ela sente como agressão. O homem não aceita o divórcio, não concede a Harper a “liberdade” de buscar viver outras relações, e quer fazer de sua interrupção voluntária de sua existência, ao jogar-se pela janela do apartamento acima do apê de Harper, uma estocada vingativa naquela que quis o desquite. Ele lança a ela sua morte auto-infligida como um terrível fardo que não cessará de atormentá-la.
Para além de debater esta dinâmica intersubjetiva em que o amor se converteu em ódio mútuo, em que Tânatos venceu a batalha contra Eros, o filme de Garland está interessado em sondar uma sinistra conspiração dos machos – que atravessa gerações e latitudes – para dar “cobertura” à macheza tóxica e a chantagem emocional abusiva que se expressa nos atos finais da vida dele. Harper diz a ele que uma das melhores razões que ela tem para querer divorciá-lo é justamente a atitude que ele demonstra de não apenas não deixá-la ir, mas ameaçá-la com um suicídio forjado, concebido e depois cometido no intento de culpabilizá-la e de lançar sobre ela um fardo psíquico insustentável.
Os men deste filme parecem agir como fantasmas do marido, conspirando com ele, numa surreal carreata de aberrações que não deixa também de lembrar o universo do Beetlejuice de Tim Burton, ainda que este seja mais cômico e Men bem mais trágico. Em termos mais simples: neste filme, os machos conspiram para, como costumam fazer, tentar convencer a mulher que a culpa é toda dela.

O cinema mostra-se uma linguagem das mais adequadas para expor a dinâmica subjetiva da traumatizada: as imagens do falecido marido caindo para sua morte, esfacelando-se no chão, tendo uma de suas mãos rasgada em duas quando seu corpo cai sobre uma lança pontuda de portão, são constantes assombrações em seu presente. Harper não pode esquecer nem superar. Até porque a malevolência dos machos ao redor – inclusive os stalkers que aparecem peladões na casa que ela alugou – não permite que ela fique “de boa” e sare suas feridas recentes.
Como se não bastasse ser acossada por flashbacks das tretas com o suicida, ela é perseguida por este stalker peladão que possivelmente tem retardo mental e encarna uma espécie de masculinidade primitiva, sem freios, desprovida de inteligência, parente da fera e da besta. Mas ela tem que suportar também formas de dominação masculina mais elaboradas, que envolvem também as violências simbólicas, como um pároco que parece querer culpá-la por ter “empurrado” o marido ao suicídio, um policial bastante indiferente aos temores legítimos que Harper manifesta, um colegial mascarado de loura que tem irrupções de grosseria verbal, entre outras figuras meio sinistronas, meio Twin Peaks, meio Lynchianas e Todd Solonzianas, todas elas interpretadas pelo mesmo ator Rory Kinnear.
A premissa pode parecer simples mas a teia metafórica e alegórica do filme é densa e complexa: Harper aluga por duas semanas uma cabana na mata em um local a 4 horas de Londres sem suspeitar que enfrentaria vivências fortes de uma malevolência misógina. Ali onde supostamente busca uma cura para sua ferida, uma temporada de luto, encontra apenas mais traumas, mais machos tóxicos, mais relacionamentos abusivos: “While she strolls around her bucolic surrounds Harper encounters a series of local males who all share an eerie resemblance to one another, each more misogynistically menacing than the last.” (BARBER, Reegan. In: LSJ) [3]
É por isso que o articulista do The New York Times afirma: “The movie, an uneasy amalgam of horror and allegory, full of creepy, gory effects and literary and mythological allusions, amounts to a sustained and specific indictment of the titular gender.” Ou seja, Men seria uma acusação de gênero, um ataque contra os homens malévolos, controladores, autoritários etc. O filme está frequentemente sondando as relações disto com uma “estrutura ideológica” que tem por símbolo supremo a maçã do Pecado, Eva e o fruto proibido:

“Whether a woman is eating an apple, going for a walk, bathing or singing or trying to leave a marriage, men will just not leave her alone. Worse, they — we, I guess — have a long history of blaming women for our own crimes and failures, a tradition of misogynist scapegoating that Garland annotates with references to Leda and the swan, Ulysses and the sirens and other canonical touchstones.” (A. O. Scott, NYT) [4]
ALEGORIA DA MASCULIDADE TÓXICA?
De modo recorrente os críticos têm destacado que Men aborda o horror proveniente de atitudes masculinistas abusivas e tóxicas. A NME, p. ex., descreve o filme como “a shocking, hilarious and terrifying take on grief and masculinity at its most toxic. Thrilling stuff.” (THOMAS, Lou. NME) [5]
No Omelete, Mariane Morisawa escreve: “O filme está menos interessado em encaixar todas as partes do roteiro do que em evocar esse arrepio na espinha que toda mulher sente quando tem a impressão de estar sendo seguida ou observada. De que em um segundo uma resposta negativa pode gerar uma agressão do nada. De que o mundo, em suma, lhe é um lugar hostil.” [6]
O filme de Garland não é um panfleto político, um documentário veiculador de fatos, mas muito mais um thriller psicológico que tenta nos entregar o mundo subjetivo desta mulher, e o faz descartando o realismo para abraçar o surrealismo.
A noção de pesadelo filmado me parece aqui a mais oportuna, e a crítica do jornal inglês The Guardian soma a isto uma percepção arguta: as várias aparições de homens durante a estadia de Harper são semelhantes às aparições nightmarish que ocorrem na condição do sono ansioso do traumatizado e o fato do mesmo ator interpretar estes “machos” encarnando várias personas sinistramente semelhantes tem um sentido subliminar:
“The fact that Harper never acknowledges the similarities between these male characters signals that it’s a device – a dramatic contrivance that some audiences might not even notice at first, but which makes perfect emotional sense. I was reminded of Charlie Kaufman and Duke Johnson’s animated oddity Anomalisa, in which the central character is beset by the “Fregoli delusion”: that everyone else (except for the titular Lisa) is the same person – blessed with the same puppet face, and voiced by the same actor, Tom Noonan. Here, the uniformity of male characters and their traits (selfish, controlling, patronising, predatory) is presented as both a universal truth and a personal reaction. This is the world as seen through Harper’s eyes, shaped by her experiences and memories – fantastical, perhaps, yet still cradling an essential truth.” (KERMODE, Mark. The Guardian) [7]
Esta surrealidade também é destacada no artigo da revista Jacobin que cita uma interessante reflexão de Garland (que, além de cineasta, é romancista e roteirista, autor dos screenplays de Extermínio [1 e 2], The Beach, Dredd, O Tesseracto, dentre outros):
“The surreal element of showing us that every man in the area has the same face is made more surreal because Harper never seems to notice it: “Is it that all these men are the same and she fails to notice that?” Garland said. “Or is it that she sees all men as the same, even though they’re actually different? And those questions are incredibly similar in their wording, but they’ve got very different implications.” (JONES, Eileen. JACOBIN) [8]
Em que gênero o filme seria enquadrável? Há quem o chame de folk-horror e o coloque na companhia de The Wicker Man e Midsommar. Há quem destaque, sobretudo devido ao desfecho, que se trata de um exemplar de body horror que dialoga com Cronenberg e com o Titane de Julia Ducorneau. Há também, é claro, elementos do thriller psicológico como Shyamalan especializou-se em fazer. A vibe de Men parece-me, porém, muito mais próxima de filmes como Anticristo de Lars Von Trier e Mãe de Darren Aronofsky.
Men é horripilante, decerto, mas também tem algo de humorístico, sobretudo na utilização altamente irônica da canção “Love Song” de Elton John. Quando me refiro aqui a um uso irônico de um recurso musical, penso em alguns paradigmas, talvez o melhor deles o desfecho de Dr. Fantástico de Stanley Kubrick. No caso de Men, que tem em seu cerne um relacionamento tragicamente falhado, que aborda os terríveis traumas que uma relação amorosa deixou na mulher que protagoniza o filme, não há evidentemente nenhuma intenção de que leia-se em sentido literal aquilo que canta o bardo em música presente em Tumbleweed Connection:
The words I have to say
May well be simple but they’re true
Until you give your love
There’s nothing more that we can do
Love is the opening door
Love is what we came here for
No one could offer you more
Do you know what I mean?
Have your eyes really seen?
You say it’s very hard
To leave behind the life we knew
But there’s no other way
And now it’s really up to you
Love is the key we must turn
Truth is the flame we must burn
Freedom the lesson we must learn
You know what I mean
Have your eyes really seen?
Love is the opening door
Love is what we came here for
No one could offer you more
Do you know what I mean?
Have your eyes really seen?
Há uma descontrução irônica das fantasias de amor, das love phantasies, neste filme sinistrão. O fato do enredo estar como um recheio em um sanduíche de Elton John tem uma boa dose de sarcasmo com as visões mais arco-íris do fenômeno do amor – este filme, como fica óbvio por fim, está muito mais falando sobre “a guerra dos sexos” do que sobre a harmônica conjunção de anima e animus. Este filme não é uma canção de Phil Collins.
O desfecho do filme é descrito como divisive em inúmeras críticas, ou seja, um final que divide opiniões entre os que o odiaram e os que ficaram positivamente impactados por ele. O crítico do LSJ odiou: “The ending itself is obtuse to the point of absurdity and it feels that any person who has ever dabbled in victim blaming might come away from the film feeling acknowledged, if not outright vindicated. (…) This all amounts to a real shame because the abuse of women, both on screen and off, deserves a withering condemnation that should have been made with much more piercing bite.” [9]
O filme explora a hoje tão comentada e denunciada Cultura do Estupro sobretudo na cena em que o padre tenta estuprar Harper enquanto mascara seu ato com um palavrório mitológico extraído da lenda de Leda e o Cisne (recentemente também explorada no sci-fi Io: Último na Terra). Neste mito, o deus sacana Zeus, que adora adotar estratagemas para violar ninfas e trair sua esposa Hera, disfarça-se de cisne para ter prazeres carnais com Leda.
O próprio título do filme, Men, generalista, parece enquadrar numa mesma caixona todos os integrantes do sexo masculino; todavia prefiro lê-lo como expressão subjetiva daquilo que o signo Homens tornou-se para esta mulher traumatizada, tormented and haunted, sobrevivendo em situação hostil por estar presa nas engrenagens da macheza tóxica.
Sua amizade por televídeo com sua amiga é um flerte com a possibilidade da sororidade ou mesmo com o horizonte do lesbianismo, mas o que domina é mesmo uma espécie de horror pelos homens que, no ápice do pesadelo de Harper que este filme parece representar, são descritos como nascendo monstruosamente dos corpos uns dos outros, numa geração pelas vísceras másculas que exclui por total a participação da mulher na reprodução, violando a ordem da natureza, os fatos de nossa humana e animal condição, e assim coerentemente comunicando um senso de intolerável monstruosidade. Esta monstruosidade é a da masculinidade tóxica – um tema tabu para muitos homens que assim fazem-se os perpetuadores de uma opressão que, para além das atrocidades sem fim que produz contra as mulheres e contra todos os dissidentes do sistema sexo/gênero, também os aprisiona.
por Eduardo Carli de Moraes
REFERÊNCIAS
[1] LUCRÉCIO. Sobre a Natureza das Coisas. Ed. Autêntica: 2021. Livro I, Pg. 100.
[2] ANDRADE, Oswald. Utopia Antropofágica. Ed. Globo.
[3] BARBER, Reegan. Film Review: “Men”. In: The Law Society of NSW.
[4] SCOTT, O. S. Film Review: “Men”. In: The New York Times.
[5] THOMAS, Lou. Men: bloodthirsty folk-horror oddity that’s not for the squeamish. In: NME.
[6] MORISAWA, Mariana. Com Men, Alex Garland discute o terror das mulheres e a crise da masculinidade. In: Omelete.
[7] KERMODE, Mark. Alex Garland’s rural retreat into toxic masculinity. In: The Guardian.
[8] JONES, Eileen. Men Is Terrifying — Until It Succumbs to Its Big Ideas. In: JACOBIN.
[9] Idem [3]
OUTROS VÍDEOS:
Publicado em: 01/08/22
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes




