A DISTOPIA “MEDIDA PROVISÓRIA” – Ou: precisamos falar sobre justiça intergeracional futura e pretérita

O debate inflamado suscitado por Medida Provisória transborda dos méritos e vícios do longa-metragem distópico que marca a estréia na direção-de-filmes do nosso multi-artista (também ator e escritor) Lázaro Ramos.
Não há como julgar a obra em sua imanência, ou seja, sem levar em consideração o seu contexto sócio-histórico, como se fosse um exercício de arte-pela-arte. O ponto-de-partida básico diante dela é aceitar que trata-se de cinema como intervenção social, do filme como instigador de controvérsias no espaço público. Sem nenhuma crença ingênua na neutralidade do artista ou na imparcialidade da cultura.
Primeiro, uma palavra sobre distopia, ou melhor, sobre a proliferação desta forma artística cada vez mais pervasiva em nosso panorama cultural. Não é surpreendente, após 700.000 mortes pandêmicas ocasionadas pela criminalidade do horrendo desgoverno bolsonarista, que recaia tanta ênfase na descrição de um cataclismo social.

O Brasil, “construtor de ruínas”, tem se mostrado uma terra fecunda para sediar distopias cataclísmicas como esta, vendida desde seu poster como uma cruza de Black Mirror com Parasita. Um filme que nos leva a supor que “a era das distopias” tem boa guarida em terra brasilis e que talvez não haja forma artística equiparável à ficção especulativa distópica para expressar este nosso território estrangulado, asfixiado, assassinado em massa pelo bolsonarismo e que teve, antes dele, sua democracia achincalhada e jogada no lixo pelo Lava Jatismo, pelo golpeachment desferido contra Dilma em 2016 (seguido pela aprovação da PEC do Fim do Mundo) e pela prisão ilegítima (e consequente fraude eleitoral) que marcaram a continuidade-do-golpe em 2018.
Em suma: Medida Provisória é distópico pois este anda sendo um país distópico pra caralho. Eis um OAVNI (objeto audiovisual não identificado, como dizem os camaradaras do Teatro Oficina) que assume-se como ato político-cultural e que não teme nem a polêmica, nem o proselitismo, nem a afronta diante de um regime de truculento militarismo e persistente racismo estrutural. Um filme que ecoa a voz de Elza Soares, a memória de Moa do Katendê, a presença de Conceição Evaristo (e Emicida…), as potências de Marielle-semente renascendo em muitas outras Marielles, para apresentar uma paranóia filmada acerca desta distopia brasilis que têm nos assombrado nos noticiários full time.
O conceito ausente de boa parte do fuzuê, da mixórdia de comments e da rapidamente crescente fortuna crítica sobre o filme, é o da justiça intergeracional.
Esta distopia hiperbólica imagina um Brasil, num futuro não muito distante (visada temporal semelhante à de Bacurau), forçosamente deportando os cidadãos de “melanina acentuada” de volta para a África. Toca aí num ponto crucial, que está inclusive para além do tema importantíssimo que é a reparação histórica pelos crimes de racismo. Trata-se da justiça entre gerações, que afinal de contas precisa ter uma visada temporal não apenas atenta ao futuro, mas também ao passado – que não é irreparável, nem irredimível, se formos ser plenamente Walter Benjaminianos.
Seu Jorge, em seu primeiro papel após encarnar Marighella no filme de W. Moura, é uma das peças-chave desta distopia brasileira inspirada na peça “Namíbia, Não!” de Aldri Anunciação (vencedor do Prêmio Jabuti). Seu Jorge, com sua ginga, seu samba, seu humor, sua presença altamente melaninada e carismática, assume hoje um papel icônico na apresentação à sociedade brasileira de uma afrobrasilidade de sucesso. Assim como Taís Araújo, Lázaro Ramos e Emicida – todos eles são celebridades, galgaram as escadarias difíceis desta sociedade racista rumo ao topo, onde falam e são ouvidos, onde há até mesmo o reconhecimento do establishment diante de seus méritos. Tanto que a Globo Filmes produz, a Tele Cine apóia, e Medida Provisória chega aos cinemas comerciais como produto midiático um pouco anômalo, mas que talvez não seja tão ofensivo ao sistema assim, uma vez que este topa produzi-lo e comercializá-lo. O establishment também sabe fazer da distopia uma oportunidade de comércio, e a indústria cultural está cada vez mais repleta de seus Jogos Vorazes e Round 6…
Com o perdão do spoiler a seguir, queria debater a morte do personagem de Seu Jorge no filme, que se dá em simultaneidade com outra morte: a do rapaz gay branco dentro do afrobunker. Em termos de montagem, a cena é sagaz, entremesclando as duas mortes, a do negão e a do branquelo, um pelas mãos dos policiais militares, o outro pelas mãos do movimento negro “aquilombado” no tal afrobunker. Porém, para além da técnica fílmica competente exercida nesta cena, a mensagem ideológica me parece rasa, demasiado binária.
Perdendo a chance de aproveitar melhor os talentos do movimento Hip Hop envolvidos na produção, como Emicida e Rincon Sapiência, o filme de Lázaro não dá voz como poderia ao rap, este que poderia ser uma expressão de algo socialmente relevante levantando-se do afrobunker: produção contra cultural em insurreição. Do jeito que veio, com a morte do branco no bunker dos negros, parece que o enredo apresenta-se simplório em relação a táticas e estratégias de aquilombamento. Acabando por sugerir que o rapaz morto no afrobunker tenha sido vítima duma espécie de racismo reverso: ainda que alvo de algumas opressões – sendo homossexual numa sociedade homofóbica, por exemplo, e tendo um “relacionamento inter-racial” com um dos ativistas do quilombunker -, ele não é enxergado como camarada. Ainda que o rapaz tinha acabado de se demitir de seu cargo no Ministério da Devolução, ao manifestar sua objeção de consciência e sua desobediência civil diante da chefa (Isabel, vivida por Adriana Esteves). E acabou morto.
Ora, se por um lado isto contribui para uma não-idealização do movimento negro, descrito como capaz de cometer erros em sua avaliação de possíveis aliados entre os de melanina menos acentuada, por outro lado torna-se uma espécie de cena clímax onde o caos dentro do afrobunker é tão distópico quanto os PMs trucidando a vida do personagem do Seu Jorge no asfalto.
É bem verdade que, na cena em que Gama e seu comparsa (o personagem de Seu Jorge) são confrontados por um miliciano armado, caçador de negros a serviço do desgoverno fascista, eles poderiam tê-lo matado, mas Gama explicita seu legalismo, seu apego a regras básicas de civilidade e de respeito ao antagonista, dizendo que “precisamos ser melhores do que nossos inimigos” (ou algo parecido). É um ponto alto do filme, em que a revanche bruta dos oprimidos contra os opressores, quando a roda da fortuna vira, é forcluída e superada por algo diferente: a previdente prudência que diz ser melhor atentar para, no combate contra os monstros, não nos tornarmos nós mesmos monstros também. Deste modo, a cena do “branco” morto no afrobunker e do “branco” poupado da morte estão como que desenhando caminhos alternativos que se abrem para o movimento afrobrasileiro diante duma branquitude que tampouco é homogênea. Quem lê em branco e preto nossa realidade de imensos matizes cromáticos acaba refém do binarismo e suas propostas simplistas de apartheid, inaplicáveis nesta mixordia miscigenada que é este nosso país.
Tudo em Medida Provisória é um pouco over, exagerado, cazuzístico. Até as atuações são muito overacting (com exceção de Seu Jorge, leve, à vontade, exuberante, mesmo em momentos de ultra dramaticidade). Eis uma estética distópica do exagero a fullgás. É evidente que o recurso de linguagem da hipérbole é mais do que aceito, é muitas vezes recomendado a uma obra de sci-fi distópica, e boas cenas tragicômicas emergem da imaginação criadora do filme ao imaginar a Medida Provisória 1888 sendo posta em prática através de deportação em massa imposta manu militari por um governo autocrático-autoritário. Porém, esta hipérbole não honra o movimento negro, em alguns aspectos, e o filme acaba pintando o afro bunker como espaço de martírio de um branco que era autenticamente um aliado daqueles que acabaram por matá-lo.

Como apontou, no site do IMS, o José Geraldo Couto, “Medida provisória, de Lázaro Ramos, é um pequeno fenômeno. Foi visto por mais de cem mil espectadores em seu primeiro fim de semana de exibição, num momento em que muita gente ainda não se sente segura para encarar uma sala de cinema. É um acontecimento cultural e político, mais do que cinematográfico. Em outras palavras: é um filme mais importante do que bom.”
Ele não é tão bom quanto é importante, a meu juízo, também por seu final. Em termos narrativos, aquele final é a irrupção anômala de uma “estética do videoclipe” que não tem conexão direta com o enredo. É a Globo Filmes tentando falar com a “geração MTV”, mas dissolvendo o debate político numa espécie de celebração audiovisual, arrojada mas clichê, da força de resistência do povo preto; no enredo distópico, o casal protagonista é derrotada pelas forças policiais e encaminha-se para o camburão, mas na irrupção video-clíptica se sugere que milhões vão sair dos bunkers e mudar o Brasil. “Como”… não parece interessar ao filme. Afirmação mística da potência do povo de melanina acentuada, Medida Provisória não encara desafios de compreensão sociológica como nos ajudar a entender o favelado negro que é eleitor de Bolsonaro ou a atual figura que preside a Fundação Palmares.
Ao não tentar lidar com temas conexos, como as cotas nas universidades enquanto políticas de reparação histórica, o filme acaba perdendo também em densidade temporal. Sobretudo na sua dimensão de densidade histórica, de visada rumo ao passado, apesar da galeria de ídolos e ícones que o videoclipe do the end evoca. Não se haure energia da “ancestralidade” afrodiaspórica no sentido da construção de ideários e práticas de panafricanismo: o “voltar para a África”, no filme, é uma imposição da branquitude racista, que faz pose de humanitária ao dar um pé na bunda em massa aos “de pele mais escura” do Brasil. Mas o espectador ingênuo em nenhum momento é informado que houve o panafricanismo, Marcus Garvey, Nina Simone, Malcolm X… O que quero dizer é isto: historicamente, é falso propor que foram os “brancos” que quiseram impor pela força um retorno-em-massa dos descendentes de escravizados para a África, já que houve por parte destes várias iniciativas de retorno voluntário, performado de modos icônicos, por exemplo por Nina Simone e a Libéria.

O filme, para além de distópico, é também muito irônico. Quando o governo brasileiro “decide a obrigator os cidadãos negros a migrarem para a África, na intenção de retornar às suas origens”, há aí obviamente uma zueira em relação ao bom-mocismo da branquitude, aparentemente tão filantrópica: vão pagar passagens de avião (evidentemente só de ida!) para a negada. Ao não aceitarem esta falsa benesse, os de melanina acentuada são obrigados à resistência contra o terrorismo de estado, simbolizado pelos fardados mas também pelos políticos que ordenam de dentro de palácios, ou à distância segura de um telefonema.
A vilania da branquitude, neste filme, é tão irônica pois tenta produzir o falso semblante de uma filantropia, de um benefício destinado à reparação histórica, quando não passa de medida fascista, profundamente invasiva (Gama até tenta fazer valer os direitos mais básicos, juridicamente válidos, que impedem a invasão de domicílios sem os devidos mandatos), mas não há diálogo com um regime fascista parecido com a continuidade-indefinida-do-atual-bolsofascismo.
Trata-se de deportação forçada em massa, com uso de aparatos da força bruta, mas “higienizada” pela TV e pelo Whatsapp como um atendimento às demandas e reivindicações sociais dos movimentos negros. É a branquitetude pró-apartheid querendo limpar o país da negraiada e limpar a própria consciência suja em uma só tacada. Nada de novo no front, pois desde 1500, ensina a Mangueira, “tem mais invasão do que descobrimento…”.
Alexandre Filordi e Ellen Lima Souza, em artigo para o Jornal GNN, apontaram: “Desde a invasão do que hoje denominamos Brasil é recorrente a tentativa da colonialidade do poder de sistematizar uma história que nos divida em heróis e vilões. Herança do maniqueísmo simplista e equivocado do eurocentrismo. Nessa história, para a população negra chegada aqui pela instituição bárbara da escravidão, restou a ironia, dentre tantas, como esta patenteada no samba da Mangueira, em 2020: “Brasil, meu dengo/A Mangueira chegou/ Com versos que o livro apagou/ Desde 1500/ Tem mais invasão do que descobrimento/ Tem sangue retinto pisado/ Atrás do herói emoldurado/ Mulheres, tamoios, mulatos/ Eu quero um país que não está no retrato”.
(…) Valeria uma inversão da distopia de “Medida Provisória”. Como a maioria da população brasileira é negra-parda-africanizada, por que não se pensar no retorno da minoria branca para suas nações originárias como espécie de fare l’America às avessas? Os negros e as negras poderiam aqui permanecer, juntamente com os povos originários e quem desejasse a reconstrução de uma nação democrática não racista e mais justa.
(…) O povo negro sempre foi povo do coletivo; é o povo do espírito ubuntu, que significa “humanidade para os outros”, com a refinada consciência que não há eu sem coletivo, sem alteridade. O simples fato do espírito ubuntu atravessar saguões e corredores de um shopping desestabiliza a planificação de uma sociedade habituada ao cada um por si e eu contra todos.”
Sim, esta distopia encerra a irrupção de algo um tanto utópico em seu final. Lázaro não quis encerrar no desalento, mas ousou motivar-nos em prol da força de resistência, de resiliência, de aquilombamento em rede. Apesar de seus problemas, omissões e falhas, Medida Provisória é importante pelo debate que suscita, pertinentíssimo em nosso presente histórico, ainda que falhe no quesito pensar estratégias para uma autêntica justiça intergeracional.
Trata-se de pensar que, para além da preciosidade que é o princípio ubuntu, defendido por Marielle, eu sou porque nós somos, nossa tarefa histórica é pensar como fazer justiça ao nós que seremos, ou aqueles que serão o nós humano quando cada um de nós não estiver mais vivo, ao mesmo tempo que pensamos nos nós que fomos, ou naqueles que foram o nós humano quando não havíamos nascido, para pensar a práxis ético-política desafiadora e inadiável de sermos justos com estes outros nós espalhados para além deste tempo exíguo, fluido, caótico e perecível que é o presente.
Sem dúvida, Medida Provisória merece ser assistido, mas não apenas: precisa ser debatido e criticado. A matéria do Nexo destacou muito bem sua atualidade: “numa sociedade com o armamento permitido, supremacistas brancos passam a ajudar as autoridades. Perseguidos, os negros promovem aquilombamentos, assim como ocorreu no Brasil na época da escravidão”. Eis nosso nó coletivo. Em 2022, ainda na vigência da presidência de Jair Bolsonaro, estamos diante da revisão da lei de cotas para a educação pública, outro tema que Lázaro Ramos e a equipe de produção preferiram nem abordar, numa omissão grave para um filme com esta temática e que se propõe a suscitar alguma reflexão sobre justiça intergeracional de tropismo pretérito:
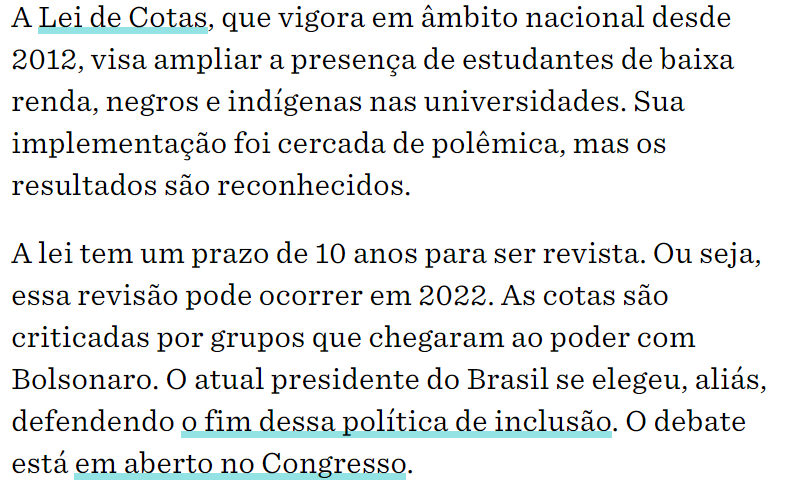
Para concluir, queria deixar aqui algumas breves reflexões sobre a tal da justiça intergeracional, que estou propondo que seja um conceito relevante para pensar os temas que Medida Provisória traz à tona. Nos debates atuais acerca da crise do clima e do colapso dos ecossistemas, vários autores importantes, de Hans Jonas a Roman Krznaric, apontam para a necessidade de pensarmos a virtude da responsabilidade coligada com o pensamento de longo prazo: é preciso agir hoje pensando no mundo que legaremos para as futuras gerações. Não podemos despejar CO2, plásticos, lixo radioativo e outras poluições e toxicidades sobre a cabeça dos ainda não nascidos, despreocupados com o porvir do mundo.
Este último autor, no seu magistral Como Ser Um Bom Ancestral (Ed. Zahar, 2021), faz uma síntese brilhante do tema, ainda que Krznaric esteja completamente focado numa justiça intergeracional que visa ao futuro. Penso que podemos e devemos pensá-la também tendo por alvo o passado: as gerações que já viveram neste planeta, mesmo antes de cada um de nós termos nascido, não merecem ser esquecidas em seu status de esqueletos, com base no princípio do “o que passou, passou”, mas sim devemos manter viva alguma chama de justiça em relação ao passado injusto. A injustiça brutal do escravismo pode e deve ser tratada por gerações que já não estão sob seu jugo, e os legados deste horror podem e devem ser combatidos.
Consertar um passado de opressões não é tão absurdo assim quando a ação é presente e tem por intenção o melhoramento das condições de vida e de oportunidades de florescimento para aqueles que descendem daqueles que foram vítimas da opressão. É neste sentido que os descendentes dos africanos escravizados teriam todo o direito e toda a legitimidade de demandar que fosse feita uma justiça intergeracional com visada pretérita, em que políticas públicas fossem realizadas no sentido de equilibrar mais a balança da injustiça que foi forjada pelos privilégios injustos gozados pelos opressores capitalistas e escravocratas.
As ações afirmativas, dentre elas as cotas, estão permeadas por este senso de reparação histórica, por esta percepção de algo que é devido àqueles que foram injustamente submetidos a um sistema de espoliação e opressão, e o mais curioso é pensar a articulação entre as duas justiças intergeracionais, aquela de visada para o porvir e aquela de visada para o passado. Ambas são fundamentais, em sua articulação, para a reparação das feridas do passado e para a invenção coletiva de um porvir menos sórdido do que este nosso presente. Infelizmente, o hediondo desgoverno do presifake psicopata Jair Bolsonaro, amparado pelos militares, milicianos, evangélicos e outros cupinchas, submete não só a justiça intergeracional a uma constante tortura e a um imperdoável descaso, como também submete a justiça ela mesma, contemporânea, do Direito tradicional, a um achincalhe constante. O próprio messias-fascista pode ser abertamente racista, ofender à torto e à direito os povos quilombolas, medi-los em arrobas, dizer que não servem nem para reprodução, e permanecer impune de seus crimes e discursos de ódio.
Medida Provisória é um grito, ressoante no mainstream, sobre este país que hoje parece ter na ficção especulativa distópica o principal meio artístico de expressão do horror infindo que vivemos, capaz de estarrecer as mentes mais sensíveis com fatos intragáveis como este: responsável por inúmeros crimes de responsabilidade contra a saúde pública na condução absolutamente catastrófica da pandemia, além de criminoso recorrente nas sendas do racismo, da misoginia e da homofobia, o Sr. Jair encontra-se hoje, em Maio de 2022, enquanto o filme de Lázaro bomba nos cinemas, postulando sua candidatura à re-eleição e… bizarro! Milhões de brasileiros acham natural que um genocida, apologista da ditadura e da tortura, fã do terrorismo de estado, aniquilador da diversidade humana, que caga e cospe sobre quaisquer conceitos de justiça intergeracional (ou mesmo intrageracional), ecocida e etnocida até o ponto da insanidade, possa ser candidato a um cargo para o qual ele já se mostrou não apenas inapto, mas explicitamente delinquente. Distopia, teu nome é Brasil.
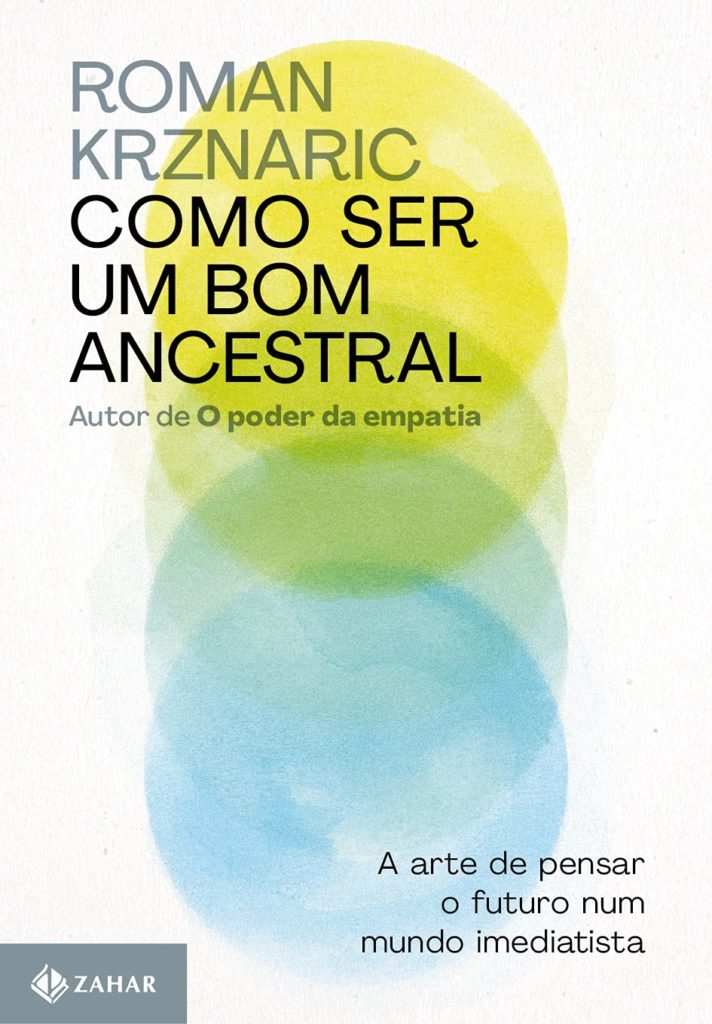
Por Eduardo Carli de Moraes
REFERÊNCIAS LINKOGRÁFICAS
APRECIE TAMBÉM:
Publicado em: 24/04/22
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes




