A ficção confronta todo o nonsense do real: sobre “Mais Estranho Que A Ficção” (2006), a tragicomédia de Marc Forster
Mark Twain dizia que “não deve espantar ninguém que a verdade seja mais estranha que a ficção” – afinal de contas, “a ficção tem que fazer sentido” [1]. Já a verdade… os paladares maduros sabem muito bem o quanto pode ser amarga e cruel. A verdade muitas vezes nos atropela com todo o seu nonsense. E a ficção é justamente nossa ferramenta de confronto: de invenção de sentido em meio ao caos bem real.
A esta oposição entre o sentido (ficcional) e a verdade (muitas vezes sem sentido, isto é, absurda, Camusianamente absurda…), podemos adicionar uma outra diferenciação, fecunda em efeitos para qualquer reflexão ética e estética: aquela que distingue entre tragédia e comédia. A distinção é menos importante do que sua reunião.
Um dos charmes maiores do filme Mais Estranho Que a Ficção (2006), do cineasta suíço-alemão Marc Forster, está numa sondagem trágica e cômica (vertentes reunidas). É uma obra exploratória das confluências estranhas e dissonâncias assustadoras entre o real e a ficção, o trágico e o cômico, o que acontece e o que imaginamos.
Quando nosso protagonista, Harold Crick (interpretado por Will Ferrell) descobre-se ouvindo uma estranha voz, que logo descobrirá se tratar da narradora de um livro do qual ele é o protagonista, a psiquiatra corre a lhe diagnosticar com esquizofrenia. Mas Crick não é um esquizofrênico “real”, mas um personagem que sua criadora decidiu tornar esquizo através de seu tecido ficcional.
Com um agravante: esta escritora (interpretada por Emma Thompson) tem a mania aporrinhante de assassinar (dentro dos livros) todos os seus protagonistas. Como uma deusa que adorasse destruir em pedaços as suas criaturas, amassando humanos de volta para a argila, para depois remoldá-los de novo, e de novo destrui-los. O artista brinca de deus, é verdade, mas é um deus heraclitiano, que brinca de destruir e recriar.


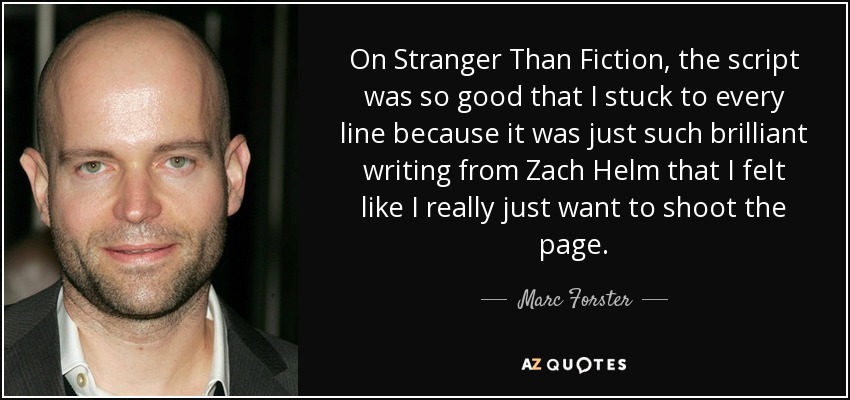
A morte iminente de Harold Crick, anunciada pela voz da narradora que está tentando criar sua vida artificial, conduz esta obra a um labirinto bem divertido de especulações, num processo de criatividade que evoca outras obras-primas do gênero, como O Show de Truman de Peter Weir ou A Rosa Púrpura do Cairo de Woody Allen.
São filmes que bagunçam de propósito as fronteiras entre o fictício e o real, que investem pesado na metalinguagem – um fenômeno brilhantemente analisado pelo livro de Gustavo Bernardo, “Metaficção”. Harold Crick é um ente artificial que serve ao propósito de uma reflexão metalinguística, mas isto não é tudo: pensando bem, sua escritora também é fictícia – e o roteirista da produção, Zach Helm, é que de fato atua como o escritor de carne-e-osso de ambos, Harold e sua “criadora” (ela mesma uma criatura do roteirista…). Esta matrioshka de criaturas é uma das características mais interessantes do filme.
Mas há mais: quando Harold Crick nos é apresentado, ele é praticamente um autômato, um escravo do relógio, uma máquina de obedecer a horários, uma calculadora em formato de homem. Sua autora tem todo o deleite em tirá-lo dos trilhos. Chuta sua bunda para longe dos caminhos já pisados. Quer vê-lo sofrer e gozar longe de sua zona do conforto – que, no caso, é sua zona de mecanização robótica de tudo, todos os gestos pré-calculados, todos os dias tudo sempre na mesma dose, o mesmo copo de café no mesmo horário e as mesmas 30 escovadas frente a um espelho igual e uma cara igual.
Esta criadora sabe que tamanha monotonia não dá estória, que o público bocejaria com um sujeito tão pacato e sairia do cinema insatisfeito por ter pago o bilhete. A personagem de Emma Thompson deseja que ele passe a errar as contas, a parar de contar as escovadas para cima e para baixo diante do espelho – que ele não seja tão meticuloso, tão certinho, tão careta e caxias, que se arrisque para fora da zona de conforto e do cercadinho das regras!
É só saindo desta mesmice, deste todo dia-todo dia-todo dia (cuja brilhante crônica foi feita na canção de Diego e o Sindicato), que ele se alçaria a uma glória duvidosa: a de um grande personagem de ficção, que por ressonância direta acaba alçando uma aura também sobre o ator que o encarna. Assim, podemos dizer que Will Ferrell fez aqui sua obra-prima de maneira similar à Jim Carrey em seu papel nO Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
Ele faz tudo sempre igual, que uma vida (por artificial e fictícia que seja) poderá se lançar ao torvelhinho do amor e da fúria em que se entremesclam sem pudor a tragédia e a comédia.O grande artista não será aquele capaz de abarcar aspectos trágicos e cômicos em uma mesma obra, já que estes são também integrantes da própria condição humana?
O ficcionista tenta instituir um mundo “de mentira” onde há mais sentido, ordem e concatenação sensata de eventos do que no real, com todo seu “som e fúria” (“significando nada”, segundo Macbeth de Shakespeare…). Mas nenhuma obra de ficção vai longe sendo apenas mentirosa, artificiosa, ilusória – a ficção que plasma mais verdade, com tragicidade e comicidade tacados no caldeirão para bem temperar os ingredientes do caldo, esta vai mais longe e logra sobreviver mais tempo, atravessar o espaço e tornar-se tesouro e legado.
É uma execução fílmica de muita perícia técnica mas acima da qual sobressai um roteiro de extraordinária qualidade escrito por Zach Helm – que evoca os melhores trabalhos de Charlie Kaufman, de Woody Allen, de Federico Fellini.
Enquanto eu mesmo passo pelas dores de parto da escritura do roteiro fílmico do Tsunami da Balbúrdia, quis reassistir Mais Estranho Que a Ficção para tentar decifrar: o que faz dele um ótimo roteiro de cinema? Que lições pode ensinar a quem deseja cometer uma story tão brasa, que Robert McKee nenhum botaria defeito?
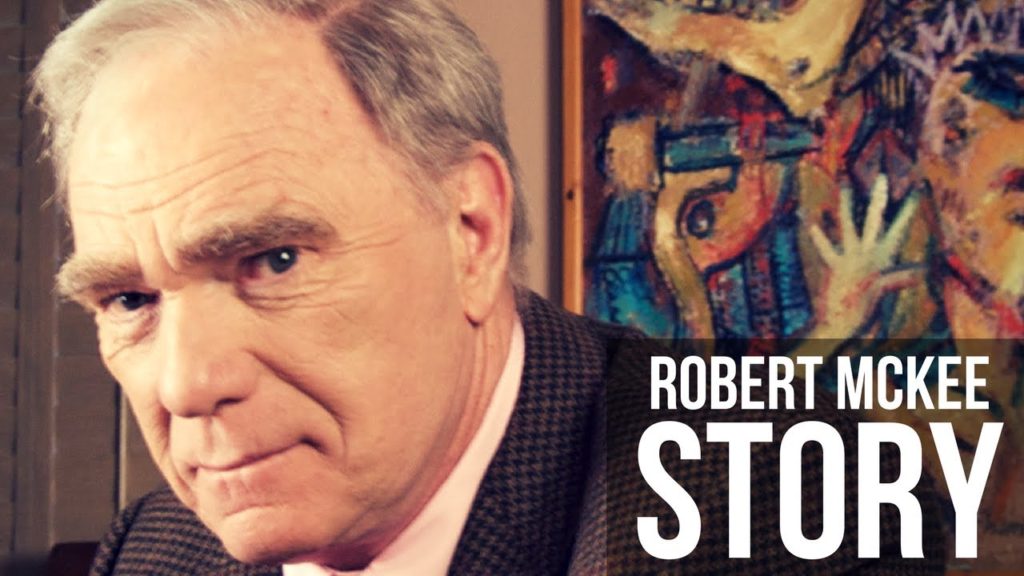
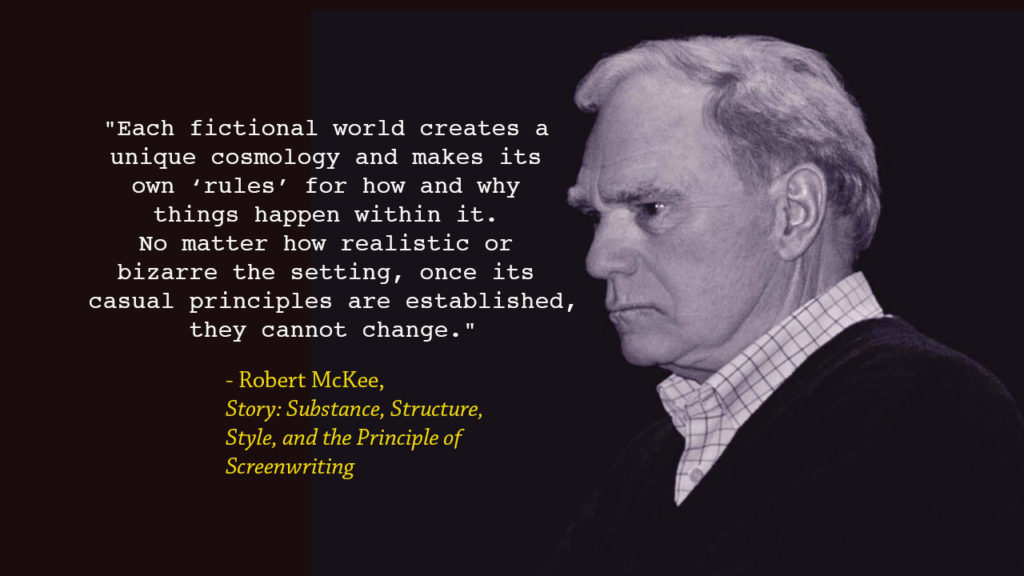
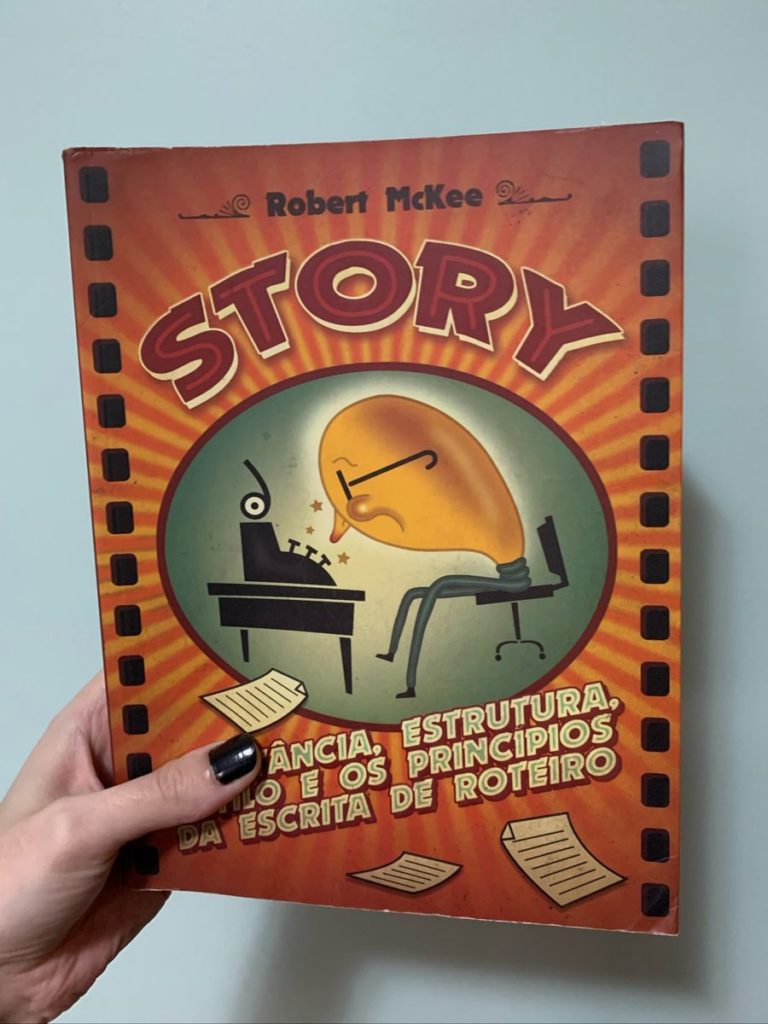
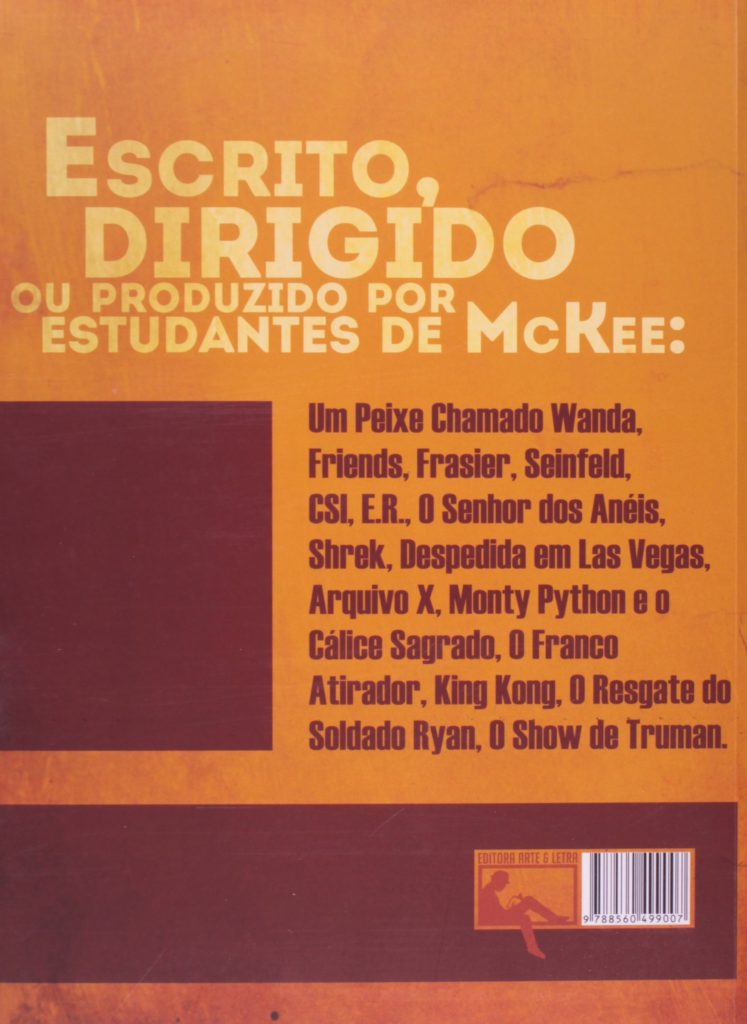
O professor de literatura, interpretado por Dustin Hoffmann, é responsável por grandes momentos de reflexão sobre a ficcionalidade presentes no filme. Ele já leu todos os livros que a personagem de Emma Thompson já escreveu e sabe bem que ela tem mania por matar seus heróis. Neste caso, o filme é propulsionado, em sua cadeia de eventos, justamente pela consciência que o personagem ganha de que sua criadora está buscando um modo de assassiná-lo.
É esta injeção súbita de consciência da mortalidade que faz com que Harold Crick saia espiralando para fora-do-eixo. Ocorre uma ruptura na monotonia de sua vidinha de fiscal da Receita, de perfeito burocrata, obediente ao patrão e ao wristwatch. De certo modo, o filme realiza uma sagaz crítica do que Marcuse chamaria de “O Homem Unidimensional”.
Este roteiro é tão interessante também por esta razão: o filme nos conduz do protagonista unidimensional ao protagonista multidimensional e a passagem de um a outra se dá pela intervenção radical de uma escritora com writer’s block, ajudada pela assessora de escritores em bloqueio criativo vivida por Queen Latifah, e nada melhor neste processo de expulsar o herói banal da repetição da mesmice do que ameaçá-lo de morte. Até o amor, ameaçado com a foice de uma morte iminente, periga pegar um fogo mais intenso e acontecer enfim enquanto antes havia apenas a solidão e sua sensaboria causadas pelo medo ao risco e pela recusa da aventura e seus perigos…
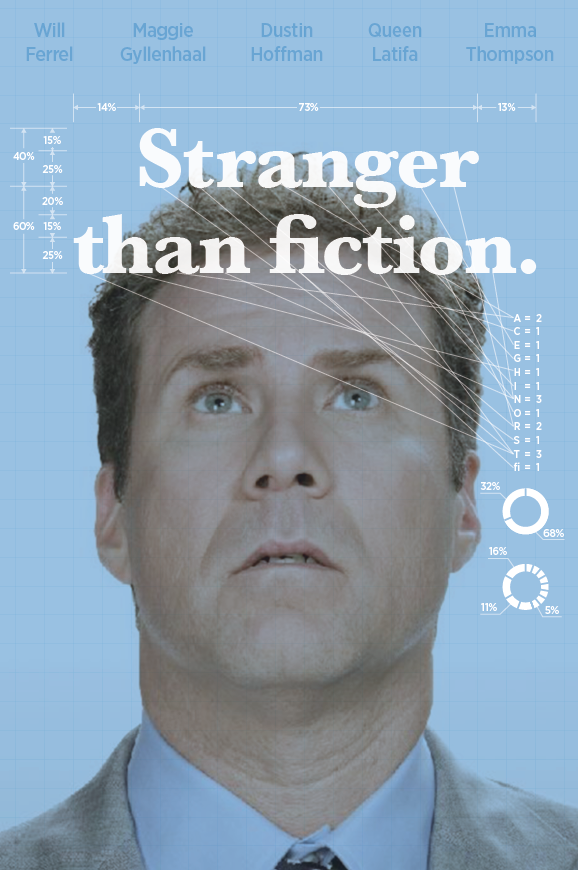


Já a adorável personagem encarnada por uma encantadora e provocativa Maggie Gyllenhaal surge para um certo tempero anarco-punk para o filme – à maneira de Thoreau, ela se recusa a pagar impostos ao Estado e acaba, por isto, sendo “perseguida” por Harold Crick, o homem-relógio a serviço na Receita Nacional. Eles tinham tudo para se odiar – e moça, que tem uma padoca-café, tendo razões de sobras para querer ver o fiscal chato longe de si com suas cobranças e ameaças.
Mas não há mesmo tanta razão nas coisas feitas pelo coração – e “Mais Estranho Que A Ficção” tem incrustado dentro de si a jóia rara de uma comédia romântica tão boa quanto “Eduardo e Mônica”. Ele atribui a ela ímpetos anarquistas, e ela adere à persona pimentinha e brinca com o caretinha quando ele questiona se ela é de uma organização anarco – “anarquistas tem uma organização? wouldn’t that defeat the purpose?”
Depois descobrimos que a moça é uma dropout de Harvard, que abandonou o Direito em prol dos cookies. Esta capetinha terminará de lançar Harold Crick para longe de sua monotonia conservadora a que já se acostumara. Já suas sessões de quase-psicoterapia com o professor, super sabido em questões de Letras, levam Crick a perceber que ele tem ambições não cumpridas que dormem como brasa por baixo das cinzas – “eu sempre quis que minha vida fosse mais musical, sempre quis aprender a tocar a guitarra.”
A graça do filme está nesta afirmação, que me parece tão realista quanto tragicômica – não, não há aí nenhuma contradição! – de que a consciência da mortalidade (e ainda pior: uma morte iminente!) tira dos trilhos da normalidade e abre as comportas para todos os dramas e trapalhadas do amor – um negócio onde existe tanto encontro quanto desencontro…

Pra terminar de deixar o roteiro supimpa criou-se uma “situação fatal” que dá muita food for thought em matéria de ética: Harold Crick é conduzido por sua autora a lançar-se, num ímpeto supra-racional, no salvamento de um menino ciclista que tropeçou e estava prestes a ser atropelado por um ônibus. Tentando salvar a criança do atropelo, o que ele faz com sucesso, Crick acaba sendo atropelado. Tá lá um corpo estendido no chão – e uma cabeça desacordada numa poça de sangue recebe o rumor dos transeuntes que comentam “eu acho que ele não está respirando.”
O filme brinca então – brincalhão que é com os processos de roteirização e criação de histórias, que ele subverte desde dentro em uma metalinguagem de um brilhantismo que evoca o Truffaut ou o Fellini de Oito e Meio – com os finais alternativos: em um final, Crick morre e o livro é uma obra-prima da história dos romances em língua inglesa. Em outro final, Crick sobrevive, mas o livro é só okay – e okay é pouca coisa pra quem poderia ter escrito uma masterpiece.
Porém, Crick ficar vivo tem outro sentido: indica que a própria escritora rompeu com sua própria monotonia, com sua própria unidimensionalidade, experimentou não matar seu herói, dar a ele uma chance, afinal ele mostrou ter qualidades morais, depois do derail a ele imposto por um relógio mal calibrado num horário errado, numa jornada que o revelou como capaz do sacrifício supremo em prol de outrem. A criança ciclista, é claro, mas também o auto-sacrifício em nome da obra de outrem. Um cara que se dispõe a morrer pela boa arte, conclui a autora, é um cara que você perde a vontade de matar.
Para encerrar, algumas palavras sobre o fim: Mais Estranho Que a Ficção é brilhante na sua postulação de finais alternativos. A princípio, Harold Crick morre no final 1, atropelado pelo ônibus, tornando-se assim um “herói moral”, capaz do sacrifício impulsivo de si para salvar o pequeno ciclista, uma perda trágica de sua existência mas que o enobrece pelo seu gesto de despedida. O personagem de Dustin Hoffmann ama este final. Mas a escritora decide que não, não vai mais matar o protagonista, cansou da mesmice que critica no Harold Crick das primeiras linhas, quer deixar este cara vivo (ainda que todo fraturado e fodido), quer tentar, para além do trágico, os confortos do alívio cômico e dos the end de comédia romântica…
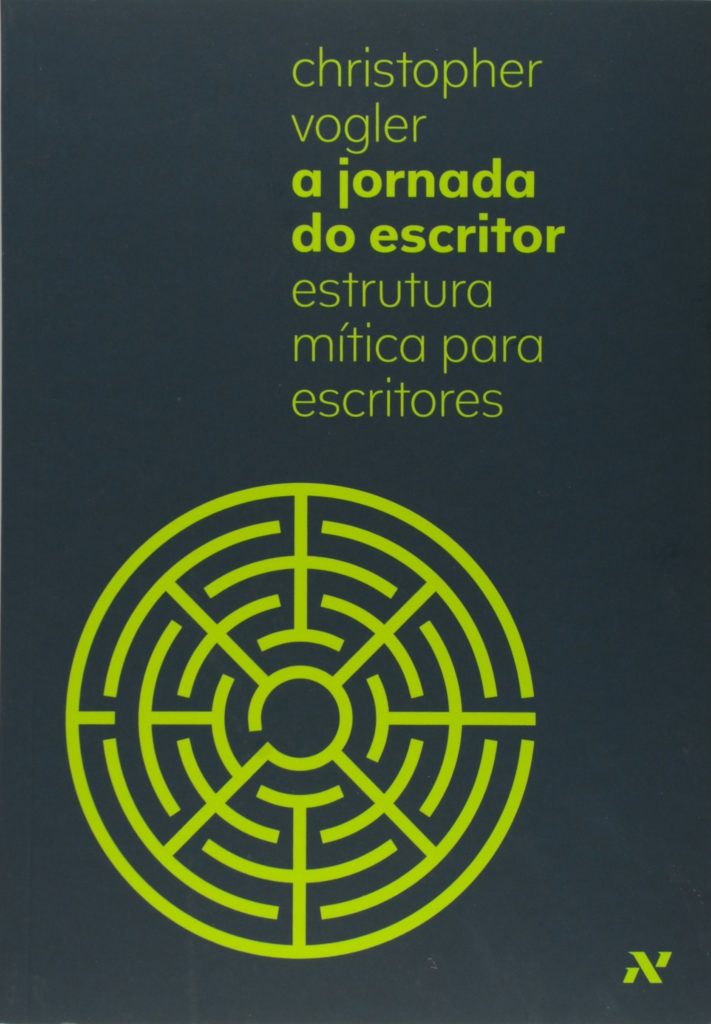
Há uma reflexão muito interessante de Christopher Vogler sobre porquê gostamos tantos de protagonistas mortos – e também os roteiristas de cinema gostam deles: “todos apreciamos sentir um pouco o gosto da morte. Seu amargor faz a vida assumir um sabor mais doce. Qualquer um que tenha sobrevivido a uma experiência de quase morte real, um quase acidente repentino de carro ou avião, sabe que por algum tempo depois do acontecimento as cores parecem mais nítidas, a família e os amigos mais importantes e o tempo mais precioso. A proximidade da morte torna a vida mais real.” (VOGLER, A Jornada do Escritor, São Paulo: Aleph, 2015, p. 222)
É quase um clichê narrativo, recorrente, muitas vezes eficaz: o herói parece morrer, mas depois revive. Por isso o professor de literatura, ciente desta recorrência, prefere a tragicidade da morte ao clichê do renascimento. Mais Estranho Que a Ficção prefere terminar sem morte, mas com vida renascendo das próprias feridas e fraturas, depois de ter-nos dado um “gosto de morte”, que segundo Vogler é uma mercadoria valiosa:
“As pessoas pagam um bom dinheiro para experimentar a morte. Bungee jump, sky dive e as aterrorizantes montanhas-russas em parques de diversões dão às pessoas a sacudida que desperta o prazer pleno da vida. Filmes e histórias de aventura sempre são populares porque oferecem uma maneira menos arriscada de vivenciar a morte e o renascimento, através dos heróis com quem podemos nos identificar. (…) Luke Skywalker, no estômago da Estrela da Morte, está no ventre da baleia… toda a técnica engenhosa do cineasta é dedicada a fazer o público acreditar que seus heróis estão sendo esmagados até virar carne moída… mas… os heróis milagrosamente sobreviveram e a tristeza do público de repente, numa explosão, transforma-se em alegria.” (VOGLER, op cit, p. 223)
Eduardo Carli de Moraes
Goiânia, Março de 2021
www.acasadevidro.com/maisestranhoqueaficcao

ASSISTA AO FILME:
Baixar torrent e legenda em português via Fórum Making Off
Publicado em: 04/03/21
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes




