Anarquismo vs Bookchin
Murray Bookchin se tornou influente no meio anarquista pela sua contribuição com os conceitos de ecologia social, municipalismo libertário e dialética naturalista. Num de seus textos mais comentados, ele tentou definir quem são os verdadeiros anarquistas e quem são os falsos. Depois de afirmar que o “anarquismo de estilo de vida” é inconciliável com o anarquismo social, ele rompeu com o anarquismo e criou outra denominação para si: o comunalismo, uma espécie de “terceira via” entre anarquismo e marxismo [ver nota 1].
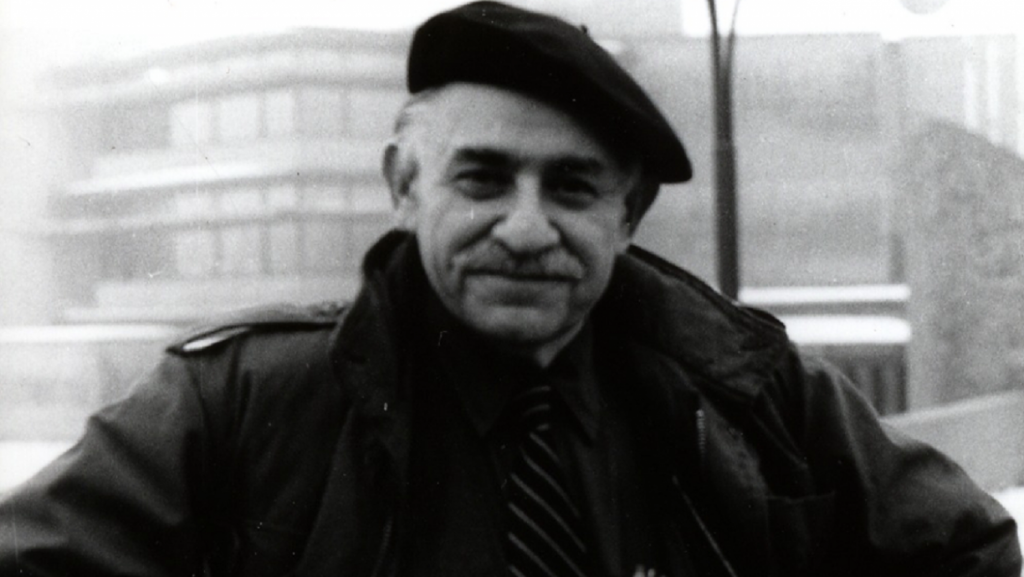
Em suas próprias palavras:
“Vários anos atrás, enquanto ainda me identificava como um anarquista, tentei formular uma distinção entre anarquismo “social” e “estilo de vida”, e escrevi um artigo que identificava o comunalismo como “a dimensão democrática do anarquismo”. (…) Não acredito mais que o comunalismo seja uma mera “dimensão” do anarquismo, democrático ou não; antes, é uma ideologia distinta com uma tradição revolucionária que ainda não foi explorada.
(…) É minha opinião que o comunalismo é a categoria política ampla mais adequada para abranger as visões plenamente sistematizadas da ecologia social, incluindo o municipalismo libertário e o naturalismo dialético. Como ideologia, o comunalismo se baseia no melhor das ideologias de esquerda mais antigas — marxismo e anarquismo, mais propriamente a tradição socialista libertária — enquanto oferece um escopo mais amplo e relevante para nosso tempo”.
As acusações de Bookchin levaram a uma longa discussão, nem sempre cordial, entre diferentes vertentes anarquistas. Talvez por causa do medo diante do avanço do fascismo e da perseguição aos anarquistas, alguns anarquistas às vezes acabam caindo na tentação de culpar outros anarquistas, reproduzindo os argumentos de Bookchin: O problema é Foucault. É não fazer análise histórica. É não conhecer a classe trabalhadora. É ceder à ideologia liberal. É ser burguês. É cair no individualismo.… Sempre as mesmas acusações, mas com pouca fundamentação.
Nessa discussão, se destaca o artigo “Anarquismo Social ou Anarquismo de Estilo de Vida: Um abismo intransponível”, que Bookchin escreveu em 1995 [ver nota 2]. O que eu pretendo fazer a seguir é uma análise do texto de Bookchin, destacando os pontos positivos e negativos.

Revendo Bookchin
A crítica de Bookchin ao anarquismo de estilo de vida não é totalmente ruim. Podemos supor que ele tinha uma boa intenção. O anarquismo tem seus fakes e infiltrados, como qualquer movimento. Mas para lidar com eles, é preciso ser cuidadosa. Não se pode fazer culpa por associação para se livrar de tudo que te incomoda no anarquismo. A grande vantagem do anarquismo é a diversidade de vertentes e a tolerância à diferença.
Bookchin começa seu texto deixando explícita sua preocupação central: há uma desconfiança em relação ao Estado. Tal desconfiança estaria relacionada ao interesse de corporações e indivíduos abastados, e o avanço do anarcocapitalismo parece demonstrar que ele estava certo. Ele diz que “os anarquistas não criaram um programa coerente e nem uma organização revolucionária para direcionar o descontentamento da massa que a sociedade contemporânea está criando”.
O direcionamento da massa (pelo seu descontentamento) é uma ação estratégica usada muito bem pelos políticos reacionários, mas não por anarquistas, e o problema é que anarquistas de estilo de vida nem sequer pretendem direcionar a massa. Já anarquistas de verdade não perderam o laço com a tradição do socialismo de Estado. O “cerne social” das ideias anarquistas teria sido abandonado em troca de “um personalismo yuppie e new age”, que é coisa de burguês. Anarquistas de verdade permaneceram na teoria e prática revolucionária.
Estas falsas anarquistas não são socialistas, não se organizam de modo “programaticamente coerente contra a ordem existente”. Elas seguem modismos, querem autonomia e não liberdade, seguem sua intuição e não a razão, criticam a tecnologia e por isso descambam para o primitivismo e se afastam da sociedade.
A crítica à “sociedade industrial” é uma abstração para Bookchin, um desvio criado para ofuscar a crítica ao capitalismo. A tecnologia não oprime. A questão são as relações sociais de produção. É a economia de mercado, impregnada em todas as esferas da vida. Bookchin associa logo de início o rompimento com a tradição socialista à tendência de criticar a civilização, e não o capital, a hierarquia e a mercantilização da vida. Logo, a crítica à civilização não passa de uma apologia ao liberalismo. Demonstrar como Bookchin erra ao afirmar que o anarquismo anticivilização não faz crítica ao capital, à hierarquia e à mercantilização da vida não é muito difícil, mas por algum motivo é um discurso que continua sendo reproduzido.
O “social” é o termo chave na crítica de Bookchin. É definido como preocupação central de antigos trabalhistas, um “compromisso organizacional”, uma “coerência intelectual” com o socialismo verdadeiro, que para Bookchin, não é o socialismo marxista. O socialismo marxista não é científico, e sim cientificista. Mas Bookchin soa exatamente como um marxista frustrado quando acusa vertentes anarquistas de serem egoístas e incoerentes. Ele chega a ponto de acusar esses anarquistas de cederem à “decadência cultural da sociedade burguesa de nossos dias”, o que soa bastante moralista.
Enquanto stalinistas revindicam terem sido pioneiros na defesa da liberdade sexual, na luta contra o patriarcado e o racismo e todo tipo de opressão, bookchinistas reproduzem um discurso semelhante sobre os “velhos anarquistas”. É como se os anarquistas contemporâneos que questionam os anarquistas clássicos estivessem apenas querendo evitar a revolução. Ou você concorda com o anarco-comunismo, ou você não quer fazer nada. E a reação de muitas anarquistas, cansadas de serem deslegitimadas por esse discurso, é dizer: “Tá certo Bookchin, é isso mesmo, não queremos sua revolução, não somos anarquistas de verdade, foda-se seus rótulos e seu anarquismo autoritário”.
O coletivo No-Wing [ver nota 3] acusa o próprio Bookchin e seus seguidores de criarem o “abismo intransponível” entre anarquistas. Minha pergunta é: ele criou esse discurso ou o reproduziu dos marxistas, liberais e conservadores que há décadas acusam o anarquismo de ser utópico, criminoso, juvenil, irracional, idealista, individualista, sectário e irrelevante?
Nos anos 50, antes de dizer que o capitalismo e a defesa do direito de propriedade privada são anarquistas, Murray Rothbard, escreveu um artigo chamado “Are Libertarians ‘Anarchists’?”, onde afirmava que o anarquismo é incoerente, espontaneísta, baseado em emoção e instinto ao invés de razão e lógica, cria conflitos desnecessários, nunca teve relevância e foi rejeitado por todas as classes. O programa anarquista é inútil, pois derrubar o capitalismo e o Estado ao mesmo tempo resultará em agências com poder de coerção para fazer valer obrigações sociais, resultando inevitavelmente no restabelecimento do Estado. Liberais em geral relacionam o anarquismo histórico ao socialismo, e portanto ao fascismo e ao estatismo.
O historiador marxista Eric Hobsbawm afirmou que as estratégias anarquistas foram ineficazes e considera o anarquismo “um capítulo definitivamente encerrado no desenvolvimento dos movimentos revolucionários e operários modernos”, considerando-o como um fenômeno pré-político e pré-industrial, de apelo emocional e não intelectual. Marxistas costumam a acusar o anarquismo de ser uma doutrina pequeno-burguesa, sem contato com o proletariado, sem fundamentos teóricos válidos, voluntarista, idealista, individualista e sectário. Relacionam o anarquismo ao liberalismo individualista e afirmam que ele não contribui de modo significativo para a teoria e prática socialista.
Conservadores e religiosos acusam o anarquismo de ser imoral, incentivar o crime, o ateísmo, a rejeição das tradições, o egoísmo, o hedonismo, o uso de drogas e a promiscuidade sexual. Além de ser apenas uma modinha hipócrita de rebeldes sem causa.
Cada um dos argumentos de Bookchin contra o anarquismo de estilo de vida pode ser traçado até uma dessas fontes. Nenhuma senhora católica precisou ler Bookchin para fazer exatamente o mesmo tipo de acusação, como por exemplo associar o anarquismo à “nova era”, bruxaria e pixação. Sendo assim, o discurso de Bookchin é um desvio das acusações geralmente feitas contra o anarquismo em geral para todas as outras vertentes do anarquismo, com exceção da sua própria.
Se anarquistas estão brigando por um status de “verdadeiro anarquismo”, criado por um senhor que pulou fora do anarquismo, o problema não é Bookchin. Sua retórica agrada quem prefere deslegitimar outras vertentes a ter que dialogar com elas. Mas Bookchin e seus seguidores não conseguem demonstrar a relevância de suas graves acusações.
Bookchin se lamenta pelo anarquismo ser tão individualista, e eu não descarto totalmente essa crítica. Ele mesmo diz que esperava estar errado. O que eu pretendo fazer aqui é demonstrar que os argumentos de Bookchin são fracos demais para descartar tudo que ele inclui no rótulo de “anarquismo de estilo de vida”. As correntes insurrecionárias não são inimigas do anarquismo social, são aliadas. Bookchin, ao tentar ajudar o anarquismo, pode ter piorado o problema. Mas podemos ao menos aprender com seus erros. Além disso, como espero que fique evidente, as críticas de Bookchin são aplicáveis aos anarco-capitalistas e liberais que às vezes se consideram anarquistas por terem alguma crítica ao “sistema”.

Quem é o ser social, e o que ele come?
Bookchin está certo em dizer que há uma tensão atravessando o anarquismo: a tensão entre autonomia individual e liberdade social. Essa tensão na verdade é inerente a qualquer reflexão das ciências sociais. Não existe nenhum atalho para conciliar essas duas coisas, mas sim diversas interpretações. Para Bookchin, essas tendências coexistiram bem durante o século XIX. O problema fica realmente grave no século XX.
Bookchin define o alvo de sua crítica logo no começo: os “sacerdotes pós-modernos” que querem uma liberdade impossível para o indivíduo, já que viver em sociedade necessariamente limita nossa liberdade individual. O anarquismo precisa “resolver esta tensão”. Ela não pode continuar pra sempre, alguém precisa definir o que vem primeiro: o ovo ou a galinha. Para Bookchin é muito simples: o social vem primeiro. Anarquistas que não reconheceram isso, como Proudhon, eram apenas “personalistas”. Sua afirmação de ingovernabilidade radical é comparada à afirmação utilitarista de William Godwin, que pode ser resumida como: “apenas eu mando em mim mesmo”. Aparentemente, não aceitar que outros mandem em você além de você mesmo é suficiente para ser “personalista”.
Bookchin reconhece que o individualismo não é uma novidade no anarquismo. Estava lá desde o começo. Mas ele acredita que essas afirmações, atraentes aos olhos dos defensores da propriedade privada “revelam um anarquismo em conflito consigo mesmo”. Afinal, para Bakunin o social reina nitidamente sobre o indivíduo. Rebelar-se contra a sociedade como um todo é impossível.
A leitura que Bookchin faz de Bakunin pode ser resumida nesta ideia: o indivíduo é um produto da sociedade, mas a sociedade não é um produto dos indivíduos. Ele também se serve do anarco-comunismo de Kropotkin, “que se baseava nos avanços da tecnologia e no aumento de produtividade”. A marginalização do anarco-individualismo como ideologia pequeno-burguesa se deu pelo sucesso do anarcossindicalismo, que levou à Revolução Espanhola.
Segundo Bookchin, os individualistas dessa época ignoraram a necessidade de “formas de organização realmente revolucionárias, com programas coerentes e persuasivos”. Nesse ponto, No-Wing pergunta: “Quais foram esses programas exatamente? Aliar-se ao fascismo vermelho stalinista na Espanha e serem assassinados?”. No-Wing sugere que individualistas se concentraram em ações de menor escala para se preservar de alianças fadadas ao fracasso. Embora isso seja complicado de afirmar, acusar esses anarquistas de negarem toda e qualquer organização é injusto. Taxar de individualista todo mundo que não concordou com certas organizações revolucionárias também é um equívoco.
Outro alvo principal de Bookchin é Max Stirner, o anarco-individualista. Para Bookchin, Stirner estaria mais próximo de liberais como Locke, Stuart Mill e Benjamin Tucker do que do socialismo. Até Emma Goldman, que Bookchin chama de nietzschiana, é acusada de ter permanecido “bem próxima dos individualistas”.
Anarco-individualistas estariam ligadas a um estilo de vida boêmio, às inovações na arte e ao “amor livre”. Nunca foram relevantes no movimento, e só foram para a linha de frente para realizar atos terroristas, criando “uma imagem de conspiração sinistra e violenta”. No-Wing responde que o anarquismo já estava rotulado como terrorista muito tempo antes dos atentados: “Não foram os feitos de terroristas que estabeleceram o rótulo, foi o medo dos que estão no poder e sua necessidade de desacreditar o anarquismo”.
Mas para Bookchin há algo pior que o terrorismo: é o “comportamento cultural questionador”. O questionamento anarco-individualista ao Estado é resultado da perda de vínculo com “uma esfera pública viável”. Afinal, para ser viável a esfera pública precisa de uma organização mais “coerente”. Os anarquistas de estilo de vida estão preocupados apenas consigo mesmos, e seus conceitos “polimorfos” apenas desgastam o “caráter socialista da tradição libertária”.
“Aventureirismo ad hoc, ostentação pessoal, uma aversão à teoria estranhamente similar às tendências antirracionais do pós-modernismo, celebrações de incoerência teórica (pluralismo), um compromisso apolítico e anti-organizacional com a imaginação, o desejo, o êxtase e um encantamento da vida cotidiana muito voltado a si mesmo”.
Para criticar a “pós-modernidade” Bookchin cita uma tal de Katinka Matson. Procurei informações sobre essa autora e a obra dela, e não encontrei nada. A única coisa que encontrei foi uma resenha do livro, que informa que é uma coleção de ensaios motivacionais escritos por uma pessoa leiga. É dessa referência que Bookchin tira que “hoje estamos nos voltando para dentro”, com uma conotação exortativa: é uma geração narcisista e egocêntrica.
É uma crítica tipicamente conservadora: as pessoas influenciadas pela “nova era” estão aderindo à acupuntura, I Ching, astrologia, reflexologia, psicoterapia, drogas… Não é à toa que também aderem ao anarquismo de estilo de vida! São coisas voltadas ao bem-estar do ego e não do coletivo. Bookchin pula de uma questão de classe para uma questão geracional e cultural num único passo. Sugere que os protestos dos anos 60 eram “traquinagens sem objetivo”, relacionados aos “estilos de vida psicoterápicos, new age e auto-orientados de baby boomers entediados e membros da Geração X”.
De uma só vez, ele reduz um conjunto enorme de perspectivas a um rótulo de “personalismo introspectivo”. O “social” foi trocado pelo grupo de afinidade que “arrogantemente ridiculariza a estrutura, a organização e o engajamento das pessoas”. O “anarquismo não-social”, para usar outro termo, é “um parque de diversões para palhaçadas juvenis”. E é lógico, ele não poderia deixar de colocar isso na conta de Michel Foucault. A revolução pessoal pregada pelo filósofo francês necessariamente não é “social”. Se você frequentou movimentos estudantis, você provavelmente conhece essa retórica. Foucault teria “uma crítica ambígua e cósmica do poder enquanto tal”, afirmação que me fez coçar a cabeça. A princípio achei que poderia ser um erro na tradução. Consultei o original, e estava lá: o conceito de “poder cósmico” de Foucault. Voltei aos textos do Foucault para entender do que ele estaria falando, e não consegui.
Imagino que a ideia seria que Foucault amplia tanto o conceito de poder que a resistência a ele se torna impossível. Para Bookchin, usar Foucault seria desprezar a teoria. Essa é a frase de Foucault que o assusta: não há uma lei absoluta dos revolucionários. Bookchin definiu os princípios básicos do anarquismo como: confederalismo municipal, oposição ao estatismo, democracia direta e comunalismo libertário. O que fugir disso não é anarquismo. Por isso Foucault é uma referência mística, vaga, intuitiva e irracional. A resposta de No-Wing a essas acusações é: “Que assim seja!”. Do modo como entendem, se a tradição socialista é fechada desse modo, ela precisa ser questionada ou mesmo superada.
Ao invés de responder no mesmo nível, poderíamos demonstrar que os anarquismos rotulados como “de estilo de vida” nem sempre fazem uma santificação do eu, e não necessariamente colocam o indivíduo acima do ser social, porque o indivíduo É o ser social. Poderia também ser demonstrado que o foco no indivíduo não é necessariamente equivalente a um personalismo ou um egoísmo que nega o social, nem parte de premissas teóricas nebulosas. Assim como o anarco-feminismo, ao se focar na mulher, não está negando a questão de classes.
Bookchin afirma que o anarco-individualismo é “basicamente liberal”, fundamentado num “mito do indivíduo completamente autônomo”, axiomas de “direitos naturais” e “valores intrínsecos”, e até no eu transcendental kantiano. A crítica de Bookchin talvez caiba aos anarco-capitalistas, não a Stirner. Ele diz que Stirner compartilha com o existencialismo a “tendência de absorver toda a realidade em si mesmo, como se o universo girasse em torno das escolhas do indivíduo auto-orientado”. É impossível compreender o sentido da filosofia de Stirner sem compreender que ela foi uma reação ao anti-individualismo de Hegel. Confundir o anarco-individualismo e o existencialismo com um simples egoísmo no sentido pejorativo é uma gafe grande demais para alguém que é considerado um dos grandes teóricos do anarquismo.
Bookchin consegue a façanha de associar existencialismo, situacionismo, budismo, taoismo, individualismo, construtivismo e primitivismo num só saco irracionalista, que busca o “retorno edênico ao ego original”, ou seja, um paraíso mítico egoísta. É um reducionismo extremamente raso em cada um dos casos, mas especialmente em relação à filosofia oriental, ao existencialismo e à crítica à civilização.
Vai se tornar nítido que o “social” para Bookchin tem um sentido muito especial, e necessariamente ligado ao conceito de governo, ainda que no nível municipal.

Autonomia ou liberdade?
Como já dissemos, as duas categorias chave do texto de Bookchin são: autonomia individual e liberdade social. Em certo momento do texto, ele apaga os termos “individual” e “social”, e fala simplesmente de autonomia versus liberdade, liberty versus freedom. A liberdade do ego para ter sua propriedade pessoal e satisfazer seus desejos pessoais é anarquismo de estilo de vida. Este anarquismo nega a sociedade ao negar o Estado.
A filosofia social faz muitas críticas interessantes ao conceito de autonomia. Mas Bookchin não cita nenhuma delas. Por autonomia, ele está entendendo “ego autogerido”, independente dos outros, portanto um ego que nega a alteridade, nega a interdependência. Nenhuma palavra é dita sobre as referências mais relevantes quanto ao conceito de autonomia, como a pedagogia libertária e a crítica ao sistema educacional doutrinador, que Stirner por exemplo já fazia. Ao invés disso, Bookchin vai a Platão. Logo em seguida cita Paul Goodman, um escritor que adotou o anarquismo como movimento estético, o “acusa” de ser um “esteta”, não um socialista revolucionário, sendo que ele nunca pretendeu ser outra coisa.
Muitas das acusações de Bookchin podem ser resumidas assim: “esse anarquismo não combina com meu conceito de social”. Mas por que deveria combinar? A distinção de Bookchin é a seguinte: a autonomia se refere ao indivíduo supostamente soberano, enquanto a liberdade conecta dialeticamente o indivíduo ao coletivo. O ponto é que o indivíduo não é deus, e só existe dentro de uma coletividade. O que faz Bookchin pensar que autonomistas negam isso? A questão é, quando Bookchin está falando de coletividade, ele na verdade está falando de uma organização social com instituições muito bem definidas.
A liberdade individual é realizada por meio da liberdade social, mas elas não se confundem. Um exemplo de confusão seria o feminismo liberal de Susan Brown. Por que Bookchin escolhe alvos como Paul Goodman e Susan Brown, que não são nem de longe referências para anarquistas? A resposta parece ser: porque ele está construindo um espantalho. Ele precisa associar anarquistas ao liberalismo, então ele aponta para liberais que se consideraram anarquistas e diz: veja, é nisso que querem transformar o anarquismo.
Uma das questões válidas que ele faz é: afinal, liberdade é livre-arbítrio ou construção social? Vem de dentro do indivíduo, ou vem de fora (da sociedade)? Alguns poderiam dizer que acreditar em livre-arbítrio é negar o coletivismo. A sociedade coletivista não subordina o indivíduo ao grupo, não rouba sua liberdade. Ela a permite, constrói suas condições de possibilidade. Não há liberdade fora desse condicionamento. E aqui há um detalhe interessante: Para Bookchin, “Stalin com certeza sustentava esta opinião” de que a sociedade deve ser imposta ao indivíduo, mas não os coletivistas! Os socialistas libertários eram democráticos, como Kropotkin e como o jovem Marx. Acusar os coletivistas de autoritarismo seria uma falácia.
Bookchin admite então que não há uma contraposição entre indivíduo e coletivo no que tange à liberdade. O indivíduo não vem do nada, e o coletivo não vem do céu. Mas no fim do dia, como se constitui a liberdade do indivíduo no coletivismo de Bookchin?
O primeiro ponto é que, diferente do que Rousseau pensava, as pessoas não nascem livres, já que a liberdade é uma construção social. Os indivíduos participam dessa construção porque querem ser livres. Dizer que os indivíduos dão forma e conteúdo ao grupo é um erro para Bookchin. Ele compara isso à afirmação neoliberal de Margaret Thatcher, de que não existe sociedade, somente indivíduos. Chama isso de “miopia social positivista e ingênua”. Compara também com o idealismo platônico.
Estranhamente, ele não contempla essa afirmação como parte de uma ideia mais ampla: os indivíduos dão forma e conteúdo ao coletivo, e o coletivo dá forma e conteúdo ao indivíduo. Quem nega isso? Ao invés disso, ele tenta provar como Susan Brown, a feminista liberal, está tão errada quanto a neoliberal Margaret Thatcher, como se criticar ambas fosse um ataque aos seguidores de Stirner, primitivistas, anarco-pagãos, anarco-queers e tudo mais.
“Minimamente, a existência humana pressupõe as condições materiais e sociais necessárias para a manutenção da vida, da sanidade, da inteligência e do raciocínio”
Isso é completamente razoável. Mas QUAIS exatamente são essas condições? Quais são suas referências para determinar essas condições, além dos velhos anarquistas? É fácil reduzir seus opositores a “pós-modernos”. O próprio conceito de naturalismo dialético pode ser acusado de ser pós-moderno, do ponto de vista marxista. Que conceito de “social” está sendo negado na crítica ao coletivismo? Já que o individual vem do coletivo, ao negar o coletivo também se nega o individual. É incoerência, anarco-individualistas não conseguem sequer defender o indivíduo real, somente um indivíduo idealizado, diz Bookchin.
Então não é que Bookchin negue o livre arbítrio, mas que ele só é possível quando se aceita as premissas coletivistas. A liberdade depende de fatores biológicos e sociais. Entre esses fatores sociais está a própria civilização. É isso que emputece tanto este senhor na crítica eco-anarquista: essa perspectiva pretende questionar as bases da formação do que naturalizamos como nossa “condição social”. Em outras palavras, se um conceito arraigado de civilização, tido como sinônimo de sociedade, pode ser criticado, o arcabouço teórico de Bookchin fica abalado.
Para defender seu próprio conceito de sociedade, ele precisa reduzir problematizadores a uma coisa repulsiva. Ele teme que se seguirmos a “fórmula liberal” da autonomia individual, mesmo as tomadas de decisão democráticas podem ser rejeitadas como autoritárias! Que grande denúncia, anarquistas considerando que a democracia pode ser autoritária! Mas qual é o grande problema nisso, afinal?
No fim, Bookchin reproduz uma distinção entre socialismo científico e socialismo utópico. Quando Bakunin pergunta “quem está certo, materialistas ou idealistas?”, ele mesmo logo responde: materialistas, óbvio, que pergunta! De certo modo, a estratégia retórica de Bookchin é esta: reduzir autonomistas a idealistas e utópicos, afirmar que somente coletivistas podem ser científicos (naturalistas), logo somente anarco-comunistas podem ser anarquistas.
Bookchin também está defendendo a democracia direta. A decisão da maioria, como a tecnologia, não é tirânica em si. Em contrapartida, ele considera que as decisões por consenso são corruptíveis, porque não permitem o dissenso. Cita a “tirania da falta de estrutura” de Jo Freeman como exemplo de crítica ao consenso, porém fora do contexto. Em outras palavras: se a total falta de estrutura não funciona, a anarquia não pode ser isso.
Bookchin cita Robert Wolff, professor de filosofia e autor de um livro chamado “In Defense of Anarchism”. Publicado em 1970, esse livro foi bem recebido entre anarco-capitalistas e até elogiado por Rothbard, o que nunca é um bom sinal. Mas a crítica de Bookchin a este livro se limita a acusá-lo de “transcendentalismo moral” e “positivismo simplista”. É importante notar que o argumento central de Wolff não era contra o anarco-coletivismo, e sim contra o Estado. Wolff argumentou que a autonomia individual é incompatível com a autoridade do Estado. Uma vez que a autonomia individual é inalienável, a autoridade estatal é ilegítima. Ao invés de confrontar seus argumentos, a reação de Bookchin parece ser: como ousa esse kantiano dizer que a autoridade do Estado não é legítima? Não passa de um idealista!
O que ele faz é transformar o conceito de autonomia em algo ruim, necessariamente oposto à liberdade, pois liberdade implica no social em primeiro lugar, logo é uma fórmula moral sobre como o “nós” vem antes do “eu”.

Essa vida é um caos, esse mundo é um caos. Caos!
Segundo Bookchin:
Hoje, o anarquismo de estilo de vida encontra sua principal expressão no graffiti, no niilismo pós-modernista, no antirracionalismo, no neoprimitivismo, na antitecnologia, no “terrorismo cultural” neossituacionista, no misticismo e na “prática” de encenação das “insurreições pessoais” foucaultianas.
Sobre quem Bookchin está falando, e com quem ele está falando? Bookchin chama o graffiti (cuja tradução mais adequada seria “pixo”), e toda uma cultura contemporânea, de “postura moderna e vaidosa”, “moda yuppie”, coisa de pessoas desorganizadas, despolitizadas, sem compromisso social, coerência teórica ou programas relevantes. A bandeira preta do anarquismo virou um artigo de moda da “pequena-burguesia”.
Neste ponto, seu alvo principal é Hakim Bey e o conceito de zona autônoma temporária (TAZ). Muitas críticas podem ser feitas a esse autor, mas o que realmente preocupa Bookchin é sua associação entre anarquia e caos, loucura, crianças selvagens, paganismo, terrorismo poético, drogas, anticivilização, piratas, bruxaria, pixação… e Stirner. Bookchin acha que Bey era um tipo de místico good-vibes que não quer guerra com ninguém nem quer transformar o mundo. Quer apenas uma festa sem limites.
Eu não sou fã de Hakim Bey. Ouvi dizer que ele defendia a pedofilia, o que eu acho horrível. Mas não é isso que incomoda Bookchin, e sim a suposta contribuição de um doido de ácido ao anarquismo. Como pode esse maluco zombar da gloriosa revolução anarquista? Dos séculos de história anarquista? Dos trabalhadores de bem? Da família tradicional anarquista?
Bookchin invoca a tradição iluminista que gestou o anarquismo. A luz da razão contra o caos místico de Bey. Como se o iluminismo fosse um passo importante para a emancipação humana, e aqueles que o criticam só podem ser estatistas! Ele até mesmo compara Bey a Engels, Stalin e Hitler!
Na realidade, se Sobre a autoridade, de Friedrich Engels, com sua defesa da hierarquia, representa uma forma burguesa de socialismo, TAZ e suas ramificações representam uma forma burguesa de anarquismo.
Afinal, a proposta de Bey não passa de pseudo-anarquismo de boteco, ou é uma elaborada promoção de uma autarquia neoliberal disfarçada de anarquismo?
Na superfície, a crítica de Bookchin é apenas a velha retórica anti-insurrecionária. Mas depois notamos que o problema é mais embaixo. Segundo Bookchin, Bey reduz a insurreição a uma “viagem psicodélica” baseada no super-homem de Nietzsche e em Stirner. Ele não quer que as pessoas tenham compromisso social, mas sim que fiquem bêbadas e criem simulações temporárias de insurreição. Bey é tão virulento que até Stirner seria racional demais pra ele.
Eu gosto do modo como Bookchin soa ameaçador quando diz: “adoraria ver Bey e seus discípulos aparecerem em um ‘piquenique dos antigos libertários’”. Mas logo depois, criticando o conceito de nomadismo, ele diz: “Os poucos ciganos que parecem gostar da ‘vida na estrada’ são, na melhor das hipóteses, idiossincráticos e, na pior, tragicamente neuróticos”. O elogio de Bey a um modo de vida nômade se torna, na visão de Bookchin, um chamado para que as pessoas sejam analfabetas e vivam nas ruas, desorganizadas e chapadas. Ao mesmo tempo, as pessoas que se dispõem a fazer isso seriam na verdade burguesas, com uma casa pra voltar quando a experiência acabar. Vão se tornar trabalhadores conformados no final de tudo.
Bookchin compara a TAZ com 68, que ele descreve como uma brincadeira juvenil, com consequências sociais terríveis, como por exemplo o uso de drogas, decadência moral e niilismo pós-modernista. Tudo para tornar inofensivo o anarquismo. A grande questão é: se o anarquismo de Bookchin era tão bom, porque ele o abandonou?
Seguir programas coletivistas que visam nada mais que eleições e reforma do Estado, por exemplo, não torna o anarquismo inofensivo também? E a institucionalização da luta? Isso também não é preferível para a burguesia?

Primitivismo é coisa de burguês/marxista/irracional
Além da crítica a Bey, Bookchin também dedica uma boa parte de seu texto a criticar o anarco-primitivismo, que ele descreve como um culto místico, irracional, anti-tecnológico, hedonista e elitista. Novamente, é algo que atrai burgueses, não trabalhadores.
“A contracultura, que outrora chocou a pequena burguesia com seus cabelos longos, barbas, roupas, liberdade sexual e arte, foi ofuscada há tempos por empresários burgueses cujos cafés, butiques, clubes e até campos de nudismo estão se tornando prósperos negócios”.
Logo depois de dizer que ser contra a tecnologia e a civilização é ser contra a razão, ele diz: “A tecnologia, ao que parece, determinaria as relações sociais ao invés do oposto, uma noção que se aproxima mais estritamente do marxismo do que da ecologia social”. A crítica à tecnologia é coisa de burgueses ou de marxistas? Bem, considerando que Andrew Feenberg, filósofo que defendeu a não-neutralidade da tecnologia, também se considera marxista, isso até que faria sentido. Marxismo de burguês. Mas dizer que isso é irracional?
Sim, quem critica a tecnologia considera que o avanço tecnológico não é um simples acúmulo conhecimento técnico, mas um determinado direcionamento deste para um fim político, que determina modos de vida e interfere nas relações sociais. Tecnologia é um sistema social. Mas para Bookchin, isso é tudo bobagem:
“Esta medíocre ideia ignora, confortavelmente, as relações capitalistas que determinam, ostensivamente, como a tecnologia será utilizada e enfatiza aquilo que a tecnologia supostamente é”.
Essa é a apenas uma reafirmação de neutralidade tecnológica: capitalismo antes, tecnologia depois. A filosofia da tecnologia tem diversos argumentos sobre isso. Qual o argumento de Bookchin? Que isso desconsidera as relações sociais. Para ele, tecnologia é sempre utilizada. Sendo assim, é o Bookchin que, defendendo uma posição instrumentalista, ignora completamente a definição de tecnologia feita por Feenberg e demais críticos da tecnologia.
Bookchin tenta associar esse raciocínio ao stalinismo, marxismo, idealismo, burguesia… Ele confunde a ideia de autonomismo da técnica com a ideia de que “a tecnologia tem vida própria”, que ele relaciona com o romantismo conservador alemão do século XIX e a Martin Heidegger, para finalmente relacionar com… nazismo. Uma estratégia retórica das mais baixas. Se tivesse lido Feenberg, saberia que este também critica Heidegger.
Isso faz com que o texto de Bookchin seja muito mais uma acusação sensacionalista do que uma crítica válida. Ele poderia ter criticado o uso que alguns eco-fascistas fazem dos conceitos anti-civilização, que infelizmente é muito comum. Mas ele não faz isso, porque isso não seria suficiente para justificar sua repulsa absoluta pela crítica à civilização. Ele precisa reduzir uma coisa à outra. Então ele segue com o argumento de que “os avanços tecnológicos em si mesmos” são neutros, o mal uso deles é culpa do capitalismo. Os burgueses usam as máquinas para explorar e lucrar, mas “as mesmas máquinas que os burgueses utilizam para reduzir ‘custos do trabalho’ poderiam, em uma sociedade racional, libertar os seres humanos dos trabalhos pesados e estúpidos, possibilitando as atividades criativas e pessoalmente gratificantes”. Em outras palavras, Bookchin reproduz o mito da neutralidade tecnológica sem nenhuma criticidade, desconsiderando toda uma área de estudo que demonstra que a tecnologia não pode ser neutra, não cai do céu, e não é só uma questão de uso, mas de PRODUÇÃO.
Bookchin também cita Jacques Ellul [ver nota 4], um crítico da tecnologia que também se identificava como anarquista. Ele diz que Ellul é um determinista, que considera que o mundo é moldado pela técnica, e logo que não vê esperança de libertação humana. Mas para Ellul a técnica não são as máquinas, a tecnologia ou um procedimento usado para atingir um fim. Técnica é o uso da racionalidade para maximização da eficiência em detrimento de qualquer outro valor social.
O que Bookchin não entende na teoria de Ellul é o seguinte: As características da tecnologia moderna tornam a eficiência uma necessidade. A racionalidade da técnica impõe determinada organização social, como a divisão do trabalho, o estabelecimento de padrões de produção, etc… Ela cria um sistema artificial que domina o mundo natural, implicando na dominação de uma classe técnica sobre o resto da sociedade.
O sistema educacional normaliza o raciocínio técnico, que se torna culturalmente dominante. O que está em risco é a capacidade de distinguir entre o que queremos e o que não queremos, o que podemos perder e o que deveríamos manter. Enfim, considerações éticas e políticas. Quando o avanço técnico determina isso por nós, perdemos essa liberdade humana, pois o imperativo técnico se sobrepõe a outros valores humanos.
Segundo Ellul, a razão cientificista foi tornada sagrada na cultura ocidental. O domínio da técnica tem relação, portanto, com o domínio religioso. A tecnologia moderna é o deus da civilização, uma força definidora de uma nova ordem social na qual a eficiência não é uma opção, mas uma necessidade imposta a toda atividade humana.
Por isso a crítica à técnica não pode se resumir ao seu uso. A técnica é dominadora quando não está sujeita a outros valores humanos, somente à eficiência. É portanto a submissão ao valor da eficiência como valor sagrado e supremo, eliminando o espaço para considerações éticas sobre seu uso. Ellul não é determinista, ele não diz que estamos condenados à dominação da técnica, mas que a técnica moderna não pode ser reformada. Assim como o capitalismo, que coloca o valor do lucro acima de todas as coisas, ela deve ser superada.
Quando Bookchin chama a anti-civilização de mística, ele se esquece que a civilização está inteiramente fundada numa mitologia sobre a razão universal e absoluta, superior a todas as outras formas de pensamento.
Bookchin cita Lewis Mumford como um crítico aceitável da tecnologia. Acusa os primitivistas de ignorarem que Mumford não era contra a tecnologia em si, pois ele dizia que a tecnologia nos livrou da superstição e aumentou nosso conhecimento do mundo. Porém Bookchin pinta primitivistas como simples negadores da tecnologia ou tecnófobos. A maioria das anarquistas anti-civilização que criticam a tecnologia não estão pregando um ataque aos objetos tecnológicos, mas sim ao sistema de dominação tecnocrata. Se trata de diminuição da dependência, e não de uma rejeição mística a tudo que é tecnológico.
A solução de Mumford para a dominação tecnológica, era, segundo Bookchin, absorver as coisas que só a tecnologia pode fazer. Isso é, nos tornaríamos menos dependentes da máquina quando nos tornássemos, nós mesmos, parecidos com as máquinas; assimilando a objetividade, a impessoalidade, a neutralidade e a eficiência que são exigidas pela civilização. E parece que é esse tipo de “crítica à tecnologia” que Bookchin tinha em mente na sua ecologia social. Seria mais preciso chamar isso de “crítica à humanidade”, ou talvez um tipo de transhumanismo.
Para Bookchin, a crítica à tecnologia não é somente uma perspectiva equivocada. Ele acusa esses anarquistas anti-civilização de colaborarem com o dominação do capital:
“A denúncia da tecnologia e da civilização, como se elas oprimissem inerentemente a humanidade, na realidade, serve para encobrir as relações sociais específicas que privilegiam os exploradores em relação aos explorados e aqueles que são hierarquicamente superiores em relação a seus subordinados”.
Como de costume nas críticas do Bookchin, ele aproveita uma acusação e a associa ao máximo de culpados: Debord com seu conceito de “espetáculo” e Baudrillard com o conceito de “simulacro”, tudo é o mesmo tipo de besteira que visa apenas fazer perder de vista a verdadeira crítica ao capitalismo: apropriação de mais-valia. Por que falar de “sociedade industrial” se o problema é o capitalismo?
Ele zomba do conceito de renaturalização, desencantamento do mundo, e logocentrismo. Tudo ilusões para nos desviar da crítica ao capitalismo. Seria o discurso de Bookchin um tipo de teoria da conspiração? Todas as outras anarquistas estariam secretamente trabalhando para o avanço do capitalismo, menos Bookchin e seu parceiros? Os “velhos libertários” seriam os paladinos do anarquismo verdadeiro que precisam proteger a sã doutrina dos hereges e blasfemadores?
Ele não compreende a crítica à tecnologia como algo que se SOMA à crítica ao capitalismo e a complementa, que busca atualizá-la para uma realidade social que está marcada pelo avanço tecnológico de um modo distinto do que épocas anteriores, ou por novas compreensões sobre o conceito de tecnologia que surgiram apenas nas últimas décadas. Talvez ele não quisesse que outras discussões roubassem os holofotes da sua genial contribuição. Para alguém que pelo menos se identificava como anarquista naquela época, ele tem muita dificuldade de dividir espaço.
Ainda sobre a crítica à civilização:
“A civilização, representada pela cidade como um centro de cultura, é despida de suas dimensões racionais. Como se a cidade fosse um câncer que não diminui, e não a esfera com potencial para a universalização das relações humanas, em forte contraste com as limitações paroquiais da vida que se dão nas tribos ou nas aldeias”.
Por fim, a seguinte associação aparece: falar de civilização, ou de tecnologia, assim como falar de ego, são “generalizações metafísicas”, que visam apenas ofuscar as “relações sociais básicas da exploração e da dominação capitalista”.
Mas infelizmente é difícil dizer que Bookchin fez uma leitura honesta da crítica à civilização. Ele a associa necessariamente a uma negação da tecnologia ao invés da compreensão de que tecnologia é um sistema que depende de coerção. A crítica da maioria das eco-anarquistas não é à tecnologia em si, mas à maneira como a tecnologia é produzida. Assim como ferramentas tecnológicas podem ser subvertidas e usadas contra esse sistema de coerção, espaços urbanos também podem. Mas No-Wing parece cometer um erro quando diz que Bookchin não confrontou o conceito de civilização como governo. Lógico que não. Pois Bookchin acredita em governo. Comunalismo é uma forma de governo, como toda forma de civilização. É por isso que ele não pode ser um crítico da civilização: ele não acredita em sociedade sem nenhuma forma de governo. Uma sociedade assim seria apenas… caos.
Por outro lado, o próprio Bookchin diz que existem tecnologias que são “dominantes em essência e ecologicamente perigosas”:
“Os reatores nucleares, as grandes barragens, os complexos industriais altamente centralizados, o sistema de fábricas e a indústria de armas — assim como a burocracia, a destruição causada pelas cidades e a mídia contemporânea — têm sido nocivos, quase que desde seu princípio”.
Mas ele não sente nenhuma necessidade de explicar porque algumas tecnologias são assim e outras não. Dizer que “o problema é o capitalismo” parece bastar pare ele, mesmo quando admite que, muito antes do industrialismo, já havia escravidão e dominação da natureza. O capitalismo (ou a relação de mercadoria) produziu a crise ecológica. E quem produziu a relação de mercadoria? A acensão do mercado não tem relação alguma com com o desenvolvimento tecnocientífico? Da escrita, por exemplo? Bookchin distorce esta crítica e repete a premissa fundamental do mito civilizacional: sempre foi assim.
Bookchin não pretende ser um defensor da civilização européia, mas um crítico moderado, isso é, evitando a depreciação exagerada, já que devemos tanta coisa ela, como: o secularismo moderno, o conhecimento científico, o universalismo, a razão e as tecnologias “que potencialmente oferecem a possibilidade de um encaminhamento racional e emancipatório das questões sociais”. Nesse perspectiva, é lógico que qualquer crítica à civilização só pode ser considerada como uma besteira para atrasar a revolução. Mas o valor da cultura européia para o anarquismo pode ser questionado pelas perspectivas anarquistas decoloniais, por exemplo.

O mito do humano primitivo
O primitivismo, que Bookchin define como “uma glorificação edênica da pré-história e o desejo de algum tipo de retorno à sua suposta inocência” é um assunto complexo, e Bookchin tem razão numa coisa: muitos primitivistas idealizam povos forrageadores e o paleolítico. Porém, mais e mais estudos tem sido publicados a cada ano com novas descobertas sobre como era a vida humana antes da civilização. Isso é relevante, porque se o modo de vida antes da civilização fosse igualitário, sem tecnologia e saudável, isso colocaria em xeque a necessidade de um projeto socialista iluminista, tecnológico e civilizacional, e portanto com algum tipo de governo.
Esta é a citação que Bookchin escolhe para resumir isso, do antropólogo Marshall Sahlins:
“suas necessidades são poucas, todos seus desejos são facilmente realizáveis. Seu conjunto de ferramentas é elegante e leve, sua língua complexa e conceitualmente profunda, ainda que seja simples e acessível a todos. Sua cultura é expansiva e extática. Sem propriedade e comunal, igualitária e cooperativa […]. É anárquica, […] livre de trabalho […]. É uma sociedade dançante, uma sociedade cantante, uma sociedade festiva, uma sociedade sonhadora”.
Bookchin acusa essa posição de “derivar das ideias propostas no simpósio Man the Hunter, realizado em abril de 1966, na Universidade de Chicago”. Trata-se de um simpósio que foi influente na contracultura dos anos 1960. Bookchin sugere que Sahlins foi influenciado pela cultura hippie, que idealizou os caçadores-coletores como tendo vidas “saudáveis e calmas”.
Se a vida em estado de natureza não é necessariamente desagradável, brutal e curta, isso significa que Hobbes estava errado, o que colocaria em dúvida um dos fundamentos da teoria do Estado moderno. Mas, garante Bookchin: “Não é assim!”.
Primeiro, Bookchin diz que homo sapiens sapiens e outros hominídeos não viveram num mesmo tipo de organização social, limitando quão longe no passado podemos ir ao falar das primeiras sociedades humanas. Pois humanos são apenas os homo sapiens sapiens, certo?
Segundo, a hierarquia é mais antiga do que parece. Bookchin diz que ha 25 mil anos atrás, pessoas eram sepultadas com seus pertences, o que sugere a existência de “linhagens familiares de status elevado”, muito antes dos seres humanos cultivarem alimentos. O que “não permite elogiar o igualitarismo paleolítico”.
Terceiro, como ter uma cultura humana propriamente dita sem uma linguagem complexa? Bookchin diz que o filósofo anarco-primitivista John Zerzan defende “a ausência de fala, de língua e de escrita”, aproximando o primitivo de uma “animalidade quadrúpede”. Bookchin chama a atenção para o fato de que Zerzan acredita que “todas as primeiras espécies de Homo (…) possuíam as mesmas capacidades mentais e físicas do Homo sapiens”.
Se esses hominídeos fossem tão inteligentes quanto os humanos modernos, poderíamos ingenuamente perguntar, por que eles não realizaram transformações tecnológicas?
O argumento de Zerzan, como Bookchin expôs muito bem, é que essas mudanças foram ativamente recusadas, num outro paralelo irônico com a teoria de um marxista: “Sociedade contra o Estado”, de Pierre Clastres.
Mas Bookchin é incapaz de aceitar que hominídeos com a capacidade de criar a escrita escolhessem deliberadamente não criá-la. Como poderia um Homo habilis tomar essa decisão, com um cérebro que “tinha menos da metade do tamanho do cérebro dos humanos modernos e provavelmente não tinha a capacidade anatômica nem para articular sílabas”? Não poderiam, porque, no fundo, não eram realmente humanos:
A simplificação feita por Zerzan da dialética muito complexa entre humanos e não humanos revela uma mentalidade tão reducionista e simplista que deixa qualquer um pasmo e perplexo.
Aqui nos lembramos de Bakunin, falando sobre como o ser humano se torna humano ao se libertar da animalidade, ao conquistar sua humanidade tomando-a de um deus ou natureza que queria mantê-lo para sempre quadrúpede. É inconcebível, por isso, que povos pré-históricos reverenciassem a natureza não humana. Não havia ainda um conceito de natureza. E se havia uma aproximação entre humano e animal, era “no intuito de comunicar-se com os animais para manipulá-los e não para simplesmente reverenciá-los”. Para Bookchin, o ser humano não estava alienado da natureza, mas já a tratava como objeto, porque isso é necessário para SER humano.
Portanto, a relação já se dava com “fins instrumentais”. A preocupação era pragmática: melhoria e controle da alimentação, e não “um amor pelos animais, pelas florestas e montanhas”. Devia haver, ao invés de amor, medo dos fenômenos da natureza, conjectura Bookchin. Os povos forrageadores atuais também torturam animais de modo sádico e queimam florestas. Sem falar na extinção dos grandes mamíferos. Enfim, “a terra não era necessariamente usada de maneira ecologicamente correta”. Sim, Bookchin é mais ecológico que as culturas ancestrais. Ele até cita o colapso do povo Maia como exemplo dessa superioridade, o que não faz o menor sentido do ponto de vista da crítica à civilização, já que os Maias eram um povo civilizador que provavelmente abandonou a civilização e voltou para a floresta.
Mas Bookchin parece enfraquecer o próprio argumento quando admite que nenhum desses povos era realmente “não-civilizado”. Mesmo antes da colonização europeia, os indígenas americanos já tinham tido contato com a civilização. A “prosperidade primitiva” é um mito, basicamente, porque Bookchin não admite que as sociedades primitivas eram humanas. Quando há humanos propriamente ditos, há alguma civilização. Logo, civilização e humanidade são basicamente a mesma coisa.
Por exemplo, os Yuquí da Amazônia sequer usavam fogo, não tinham animais domésticos, nenhum xamã ou agricultura. Mas tinham escravos, um aspecto cultural que herdaram de um povo expansionista. Portanto, no raciocínio de Bookchin, não há ligação entre hierarquia e técnica civilizada.
Bookchin também questiona a prosperidade de povos forrageadores como o povo Kung, que “tinha uma expectativa média de vida de cerca de trinta anos”. Baseando-se em dados sobre a alta mortalidade infantil em povos forrageadores, Bookchin conclui que a qualidade de vida desses povos não poderia ser muito boa. Então Hobbes não estava errado afinal: “a vida deles era bastante dura, em geral curta e muito difícil do ponto de vista material”. Viviam em estado de guerra, seja contra predadores ou outros grupos humanos. Além disso, estavam completamente indefesos ao ataque do homem branco.
Logo, o primitivismo “nega o mais destacado atributo da humanidade enquanto espécie e os aspectos potencialmente emancipatórios da civilização euro-americana”, que é nossa superioridade em relação aos animais. Isso fica demonstrado pelo fato de que humanos inovam e transformam seu meio, ao invés de somente se adaptar e se conformar a esse meio. Essa capacidade é “um dom natural e um produto da evolução biológica humana”. A conclusão é que defender o primitivismo é desumanizador, animalesco, conformista e anticientífico.
Negar a civilização é negar as fases de desenvolvimento da história humana. “O capitalismo e suas contradições são reduzidos a epifenômenos de uma civilização devoradora”. A história é o desenrolar da racionalidade humanidade, da liberdade, da autoconsciência e da cooperação. O conceito de história de Bookchin é o desdobramento do espírito humano, cujo fim obviamente tem a ver com a civilização superando o capitalismo. “Primitivistas” como Heidegger (o nazista), ignoram a expansão da liberdade e da consciência humana, por isso negam a revolução. Acontece que Heidegger nunca foi anarquista nem primitivista, nem é um filósofo fundamental para essa perspectiva.
Com todas as palavras: “o anarquismo de estilo de vida anticivilização é cúmplice do capitalismo, ao trazer o espírito humano e sua história de volta a um mundo menos desenvolvido”.
Como nota Bookchin, mais uma vez num tipo de elogio disfarçado a Max Stirner, o primitivismo é tão burro que sequer permite o desenvolvimento do indivíduo. O “alto grau de solidariedade grupal impelido pelas difíceis condições dão pouca margem para comportamentos excessivamente individualistas”. Quanta incoerência, não? Então, novamente, primitivismo é uma brincadeira de burgueses. Por fim, como não podia faltar:
“Denunciar uma tecnologia avançada e utilizá-la para produzir literatura anti-tecnológica é pouco sincero e demonstra hipocrisia”.
BINGO! A tabelinha completa de falácias anti-primitivistas. Novamente, não acredito que Bookchin foi pioneiro nesse tipo de espantalho. Acho que ele apenas reproduziu e fortaleceu um discurso já batido. É exatamente o tipo de coisa que eu ouço há mais de 20 anos, desde que comecei a escrever sobre crítica à civilização.
Em 2011, Steven Pinker reafirmou cada um desses pontos em seu livro “Os Anjos Bons da Nossa Natureza: Por Que a Violência Diminuiu”. O livro entrou para a lista dos mais bem vendidos. Porém, é também bastante criticado por especialistas da área. Segundo seus críticos, as referências são insuficientes, e Pinker erra nos cálculos de mortalidade. Um estudo publicado na Science, “Lethal Aggression in Mobile Forager Bands e Implications for the Origins of War”, dos antropólogos Douglas Fry e Patrik Soderberg, contradiz as afirmações de que forrageadores nômades estavam regularmente em guerra. Para Brian Ferguson, especialista em antropologia da guerra, Pinker exagera os dados de mortalidade em guerras pré-históricas, reproduzindo o que ele chama de “neo-hobbesianismo”. Em “War, Peace, and Human Nature”, Fry afirma que a guerra estava ausente na maior parte da existência humana.
Mas para ser justo, Zerzan também comete muitos equívocos antropológicos em seus textos e também embarca em perspectivas filosoficamente controversas. O ponto é que tanto Zerzan quanto Bookchin estão equivocados. São exagerados, criam uma distorção da antropologia. O assunto não está encerrado. A crítica anarquista à civilização, com todos os seus defeitos, ainda é um assunto pouco debatido para ser descartado assim tão fácil.

Um perfeito/prefeito anarquista
O anarquismo de estilo de vida é imediatista, irreflexivo e sem noção da realidade, “obstruindo a análise racional e a própria racionalidade”. Quer pensar fora do tempo e do espaço, “priva a mente de sua singularidade criativa e de sua liberdade de intervir no mundo natural”. As primitivistas desejam uma realidade humana “essencialmente estúpida e visceral”. A ecologia anticivilização é anti-histórica e apolítica, tem raiz em Heidegger, ou seja, nazismo. É afirmação de um ego narcisista, infantilizado e pequeno-burguês. A teoria é incoerente, irracional e não produz nenhuma ação, “que não seja publicar um ‘zine’, um panfleto ou pôr fogo numa lata de lixo”. A natureza social do humano é dissolvida na natureza biológica, o ser humano é reduzido ao animal.
A maior parte do texto do Bookchin é simples repetição dessas afirmações, mas sinceramente, não vejo nenhuma sustentação dessas afirmações. Ele não demonstra nada do que diz. Está, em outras palavras, fazendo reducionismo no melhor dos casos. Discurso de de ódio, no pior. Associando seus críticos ao que ele considera mais horrível, e dando adjetivos para que outras pessoas possam desrespeitar esses anarquistas, cujo pensamento não foi realmente analisado. Ele acusa essas “fantasias estéticas e autoindulgentes” de minar o socialismo da esquerda libertária que “outrora teve relevância e influência social”. O anarquismo já foi mais socialista, no passado, mas está deixando de ser. Talvez por isso o próprio Bookchin precisou abandoná-lo. Mas não poderia simplesmente ir para o marxismo, tendo criticado tanto Marx, Engels, Lenin, Stalin e outros. Então ele cria o comunalismo. Sua própria versão de anarco-comunismo.
O comunalismo é mais socialista que o socialismo, mais anarquista do que o anarquismo, mais materialista que os materialistas. Ele clama por direitos e deveres, ordem, razão, compromisso, e um governo funcional, mas anti-estatista. O resto é egoísmo e misticismo. Fora desse “social”, o que resta é a submissão às leis de mercado, as leis da acumulação do capital. Bookchin está criticando o discurso da autonomia e do empreendedorismo no capitalismo.
“Apesar de todas as reivindicações por autonomia, esse “rebelde” da classe média, com ou sem uma pedra nas mãos, está totalmente preso às forças subterrâneas do mercado, que ocupam todos os espaços supostamente “livres” da vida social moderna, das cooperativas de alimentos às comunas rurais”.
A rejeição a toda forma de governo é capitalismo cultural. É filosofia liberal. É um ópio. O único e sua propriedade de Stirner é um mito, porque não existe eu sem a sociedade (o outro), e não existe sociedade sem regras que valem para todos. Uma verdade externa ao indivíduo.
“O egoísta stirneriano despede-se da realidade objetiva, da realidade dos fatos sociais e, por meio disso, da transformação social fundamental e de todos os critérios e ideais éticos para além da satisfação pessoal”.
E Nietzsche foi ainda pior que Stirner, na visão de Bookchin.
“Seguindo a inexorável lógica de Nietzsche, permanecemos com um eu que não apenas cria essencialmente sua própria realidade, mas que também deve justificar sua própria existência, como algo mais do que uma mera interpretação. Tal egoísmo, dessa maneira, aniquila o próprio ego, que desaparece na névoa das próprias premissas não declaradas por Stirner”.
Para Bookchin, a história humana precisa de “padrões de progresso e de regresso, de necessidade e de liberdade, de bom e de mau, e — sim! — de civilização e de barbárie”. O abismo intransponível é este: entre social e liberal, civilização e barbárie. Stirner é liberal, porque tentou se contrapor ao socialismo. Com esta fórmula, Bookchin dá uma definição bastante sólida de como identificar inimigos e aliados, o que é reconfortante num mundo tão complexo. O projeto socialista é incompatível com jovens místicos, inventadores de gênero, magos caóticos, autonomistas, rebeldes, budistas, drogados, emos, otakus, naturebas, veganos, pagãos, xamãs… enfim, bárbaros!
“O anarquismo de estilo de vida deve ser compreendido no atual contexto social, que envolve guetos negros desmoralizados, subúrbios brancos reacionários e também as reservas indígenas, ostensivos centros de ‘primalidade’ nos quais gangues de índios jovens trocam tiros entre si, o tráfico de drogas cresce a cada dia e os ‘graffitis saúdam os visitantes até mesmo no monumento sagrado de Window Rock’”
A preocupação de Bookchin é a “decadência cultural” da nova esquerda pós anos 60, o pós-modernismo, a contracultura e o espiritualismo esotérico. Ele reclama de budistas, drogas, promiscuidade e retorno à animalidade, ou seja, da “descivilização”. Na sua cabeça, nós é que demonizamos a civilização, que não reconhecemos “suas enormes potencialidades para a realização da liberdade autoconsciente”, ao dar espaço para coisas como “budismo”. As palavras-chave para identificar o inimigo seriam: “imaginação, sagrado, intuitivo, êxtase e primitivo”.
“O anarquismo social, a meu ver, possui uma essência completamente diferente por ser herdeiro da tradição iluminista”.
No-Wing chama Bookchin de “velho branco”, mais compromissado com a tradição europeia do que com o fim da dominação de fato. Bookchin diz que não quer negar a paixão, o êxtase, a imaginação, o divertimento e a arte, apenas “incorporá-las na vida cotidiana”, isto é, na civilização. Trata-se de racionalidade, tecnologia, instituições sociais. A “política genuína” de Bookchin é a “coordenação confederal de municipalidades ou comunas, levada a cabo pelo próprio povo, com democracia direta cara-a-cara, opondo-se ao parlamentarismo e ao Estado”.
No fim do texto ele chega à proposta do comunalismo: Uma “comuna das comunas”. Recusa-se a chamar de “governo”, e prefere descrever como “dimensão democrática do anarquismo, no sentido de uma administração majoritária da esfera pública”. Mais tarde, ele admitirá o comunalismo como “uma teoria de governo ou um sistema de governo em que comunas independentes participam de uma federação”, embora afirme que “governo”, nesse caso, não implica em Estado ou hierarquia de cima para baixo. Engraçado porque muitos liberais pensam exatamente assim.
Bookchin defendeu que o campo de atuação política do anarquismo deve ser o município. A principal diferença entre o anarquismo e o comunalismo seria a admissão de instituições locais. Governantes podem ser eleitos por voto democrático, desde que não sejam estatistas. Por isso, Zerzan chamava Bookchin de “reitor”.
O ego não-narcisista de Bookchin é nada egocentrado. Ele é a perfeição do social. É o ser comuno-centrado. Busca a liberdade social, não a autonomia individual. Seu projeto de criar cidades sustentáveis e democráticas com sólidas estruturas institucionais é totalmente altruísta. Fora disso, só há anarquismo estético:
“Ao negar as instituições e a democracia, o anarquismo de estilo de vida isola-se da realidade social, de maneira a poder enfurecer-se com tudo, a partir de uma raiva fútil, continuando, assim, a ser uma travessura subcultural para ingênuos jovens e entediados consumidores de roupas pretas e pôsteres excitantes”.
A civilização sempre existirá, e ela precisa de poder para funcionar. O poder pode estar nas mãos de um tirano, um egoísta ou um velho libertário. Vote em Bookchin, a melhor opção. O texto faz mais sentido quando você o entende como um discurso de um candidato. Bookchin ataca seus “adversários” com o mesmo tipo de retórica que se vê em tempos de eleição. Recorrendo a Kropotkin, presidente do “partido”, ele diz que Stirner é elitista, prefere o desenvolvimento pleno de alguns indivíduos do que o desenvolvimento “normal” de todos os indivíduos. É um corrupto.
O “anarquismo tradicional” não nega a democracia, mas a radicaliza, criando um “poder municipalista confederal para contrapor o Estado”. Comunas unidas contra o Estado. Uma organização sem Estado porém capaz de se defender do Estado. Quem precisa de Estado forte se você tem cidades-estado fortes? E no que deu o comunalismo, para além de se arrogar de ser a grande inspiração da experiência confederalista de Rojava? Como se os curdos precisassem de Bookchin para saber o que fazer.
Para ser justo, Bookchin modera seu discurso no final, dizendo:
Eu seria o último a afirmar que os anarquistas não devem viver seu anarquismo no dia a dia, o quanto for possível — pessoal e socialmente; estética e pragmaticamente. Mas não devem viver um anarquismo que diminua, ou na realidade que apague, os aspectos mais importantes que têm diferenciado o anarquismo, como movimento, prática e programa, do socialismo estatista.
Me diga, então, QUEM estava sendo atacado esse tempo todo? Quem são esses anarquistas de estilo de vida que não concordam com essa afirmação, muito mais razoável, que você deixou para o final? Depois de passar páginas e páginas atacando incansavelmente os falsos anarquistas, isso é como a admissão de um blefe. Um passo atrás. Nenhum anarquista anticivilização quer diminuir os aspectos importantes do anarquismo. A questão é: quais são esses aspectos? Note a preocupação com o socialismo estatista.
O ego de Bookchin é tão anarquista que não coube no anarquismo. Quem um dia poderá ser tão coerente assim?
Notas:
- Janet Biehl. Bookchin Breaks with Anarchism. https://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-bookchin-breaks-with-anarchism
- Murray Bookchin. Anarquismo Social ou Anarquismo de Estilo de Vida: Um abismo intransponível. https://bibliotecaanarquista.org/library/murray-bookchin-anarquismo-social-ou-anarquismo-de-estilo-de-vida-um-abismo-intransponivel
- No Wing, OK Bookchin. https://theanarchistlibrary.org/library/no-wing-ok-bookchin
- Jacques Ellul, Técnica e o desafio do século.
Publicado em: 30/08/20
De autoria: Janos Biro Marques Leite




