
Em rota de colisão com “Melancolia”: sinistro sci-fi de Lars Von Trier repercute em Latour, Viveiros de Castro, Zizek e Byung Chul-Han
“The universe seems neither benign nor hostile, merely indifferent.”
CARL SAGAN
“Há inocentes que não escapam que lhes caia um raio na cabeça”, diz a Cleópatra de William Shakespeare. Em Melancholia, Lars Von Trier levou mais longe este preceito trágico: pegando carona num enredo de ficção científica, sugeriu que há planetas que não escapam de sofrer inimagináveis hecatombes que, em sua absurdidade impenetrável, lançam todas as conquistas humanas, além de todos os sentidos humanamente construídos, no lixo.
Pior: o lixo ainda é reciclável, mas aqui figura-se o fim da aventura humana sobre a Terra, inescapável e impiedosa, causada pela colisão de Melancolia conosco. Uma catástrofe monumental que, sem happy end, não deixa ninguém vivo para narrar os fatos. Eis um filme de desastre como nunca vimos antes, e que em sua densidade e complexidade tem suscitado, entre grandes pensadores como Viveiros de Castro e D. Danowski, Bruno Latour, Slavoj Zizek e Byung Chul-Han.
A MELANCOLIA DE LARS VON TRIER – Parece expressar-se através de seu cinema de alto impacto, que antes nos comovera através de Dançando no Escuro, Dogville, Manderlay etc. – a perspectiva de que tudo aquilo que valorizamos, tudo aquilo que construímos, possa tornar-se poeira cósmica e esquecimento pleno. Quem se lembrará da nossa História toda quando este planeta não passar de cinzas? Enxergar, do presente, uma tal perspectiva de futuro equivale a ser fisgado pela naja do niilismo e sugado pelo buraco negro da melancolia.

O cineasta dedica-se, nesta obra sinistra, a um outro tipo de radicalismo, diverso daquele que aprendemos a esperar do enfant terrible dinamarquês depois dele ter-nos feito testemunhar mutilações genitais (Anticristo), genocídios brutais (Dogville), surubas monumentais (Os Idiotas) e muitos outros extremismos estéticos. Sem violência gráfica ou táticas de choque, Von Trier, notório adepto das mais extremas expressividades, fez em Melancholia um de seus filmes menos “invasivos” e apunhalantes, mas que ainda assim consegue insidiosamente nos dar amplo material para preencher nossos pesadelos despertos.
Afastando-se um pouco do cinema de pendores Brechtianos de Dogville e Manderlay, o artista deixa o corrosivo comentário político inundado de sarcasmo provisoriamente em descanso e dedica-se a investigar males psíquicos que conheceu de perto: a depressão, a melancolia, o luto.
Com o admirável poder que possuem certos grandes artistas, tão raros e tão preciosos, de fazer-nos refletir em profundidade sobre os maiores dramas da condição humana através do impacto emocional que seus personagens e seus destinos nos causam, Lars Von Trier nos conduz a meditar sobre a morte e o tempo, a finitude e o sentido, a imensidão cósmica em contraste com a dimensão infinitesimal do indivíduo humano. Mas não o faz utilizando-se, à moda dos filósofos mais avoados, somente de abstrações pálidas, conceitos generalizantes, palavras grandiloquentes… Ele nos permite assistir de camarote, através da janela indiscreta que o filme nos abre, a estes atores de carne-e-osso, cujos corações pulsam diante das câmeras, encarnando todo o som e a fúria do estar-sendo-humano em meio ao que parece ser a imensíssima desumanidade cósmica (evocada por Carl Sagan na epígrafe deste artigo).



“Life on Earth is evil.” Juízos tão radicais como este (“a vida na Terra é do Mal…”) vêm acompanhados por outros, tão excessivos quanto, que a melancólica moçoila Justine (Kirsten Dunst) sustenta com idêntica convicção: estamos sozinhos no Universo e este não sentirá nossa falta quando a raça humana estiver extinta. Idéias tipicamentes melancólicas, o que não prova que sejam mentirosas: e se a verdade for triste?
Há algo de Saramaguiano nesta desoladora perspectiva abraçada por Justine: “o Universo jamais vai se dar conta que Homero escreveu a Ilíada e a Odisséia“, diz às câmeras o Prêmio Nobel de Literatura português em uma das cenas do documentário José & Pilar, crônica de sua velhice, tingida esta, como foi boa parte de sua vida e obra, pelo fado e pelo blues…
Há algo também de Camusiano nesta sensação de absurdidade, decorrente do anseio humano por sentido em meio a um cosmos que parece absolutamente indiferente a nossos propósitos e desejos, o que pode, se não conseguirmos dar o salto sugerido por Camus do absurdo até a revolta, atolar-nos no pântano da melancolia…

Justine, cujo matrimônio desastroso é descrito na primeira parte do filme, assiste a aproximação da catástrofe cósmica com uma espécie de fatalismo, como se estivesse certa de que toda (re)ação é inútil. Mais: certa de que a vida na Terra não mecereria nenhum destino melhor do que a extinção. Aquele “hóspede sinistro” que, segundo Nietzsche, assombrava a Europa do século XIX, o niilismo, mostra-se vivíssimo no século XXI. E Lars Von Trier volta a colocá-lo em debate através de um filme que nos obriga a nos defrontar com a possibilidade do fim da espécie e do planeta que nos hospeda. Através disto nos obriga a pensar no valor de tudo que é humano. Não são somente as civilizações que são mortais, como nos lembra Paul Valéry, mas o próprio astro sob o lombo do qual erguem-se todas as civilizações têm também seu prazo de validade.
Vendido como um “filme-catástrofe”, Melancholia é bem diferente dos tradicionais arrasa-quarteirão na escola de Michael Bay: como disse Pablo Vilaça, é como se Armageddon tivesse sido filmado por Ingmar Bergman. Von Trier não manda pelos ares os prédios públicos em violentas explosões à la Guerra dos Mundos, nem reduz a Casa Branca a pó à la Independence Day: contra invasores alienígenas a humanidade tem sempre a esperança de uma guerra vitoriosa (e uma que glorifique, é claro, o aparelho bélico-militar com elefantíase que faz dos EUA a potência truculenta que é…).
Von Trier prefere deixar de lado os homenzinhos verdes armados de laser desembarcados de Marte e faz uma escolha bem mais adequada à sua investigação dramática dos males psíquicos vinculados à melancolia: um planeta em rota de colisão com nosso planeta, sem que haja absolutamente nada que possamos fazer para modificar o inelutável. Esta sensação de impotência tinge todo o filme. Uma luz sombria espraia-se sobre as maiores conquistas da tecnologia e da ciência, já que, por mais desenvolvidas que tenham se tornado, não chegaram a nos tornar capazes de comandar o movimento de nosso planeta e fazê-lo escapar de um choque bruto com outro corpo celeste. Não há leme que nos possibilite desviar o navio dos icebergs que vemos pela frente. Estamos submetidos à órbita solar de um modo tão imperativo que nossa única opção é a obediência.
Comparado com o costumeiro arrasa-quarteirão de verão onde a catástrofe é vendida aos consumidores como um amigável entretenimento, Melancholia é sim um sci-fi filosófico primoroso e um drama psicológico sensível; mas, comparado com obras-primas do passado de Tarkovsky ou Kubrick, o filme de Von Trier empalidece: Solaris e 2001 me parecem filmes melhores, mais dignos de um status de clássicos da sétima arte, sendo que Melancholia parece-me uma expressão do zeitgeist catastrofista mas que dificilmente se alçará, na opinião de crítica e público, às alturas das obras supramencionadas. Mesmo a primeira parte do filme, que escancara a vida familiar repleta de mágoas e desavenças de aristocratas da alta sociedade, têm precursores mais poderosos, por exemplo, no Festa de Família, de Thomas Vinterberg, conterrâneo e ex-colaborador de Trier nos tempos do Dogma 95, pra não falar em obras de Buñuel...
Von Trier não se interessa, em Melancholia, por ciência. Não gasta película tentando provar a verossimilhança da ocorrência. O que ele quer é focar sua atenção sobre as reações emocionais humanas diante da iminência da extinção. As duas irmãs, Justine e Claire, representam dois modos diferentes de se lidar com a situação: Claire (Charlotte Gainsburg), casada e com filho pequeno, é aquela que tem algo de precioso a perder e que, por esta razão, experimenta sensações de pânico e de aflição mais intensas em comparação com a irmã (Dunst) que, tão deprimida com o naufrágio de seu casamento e a insensatez das ocorrências cósmicas, has nothing left to lose.
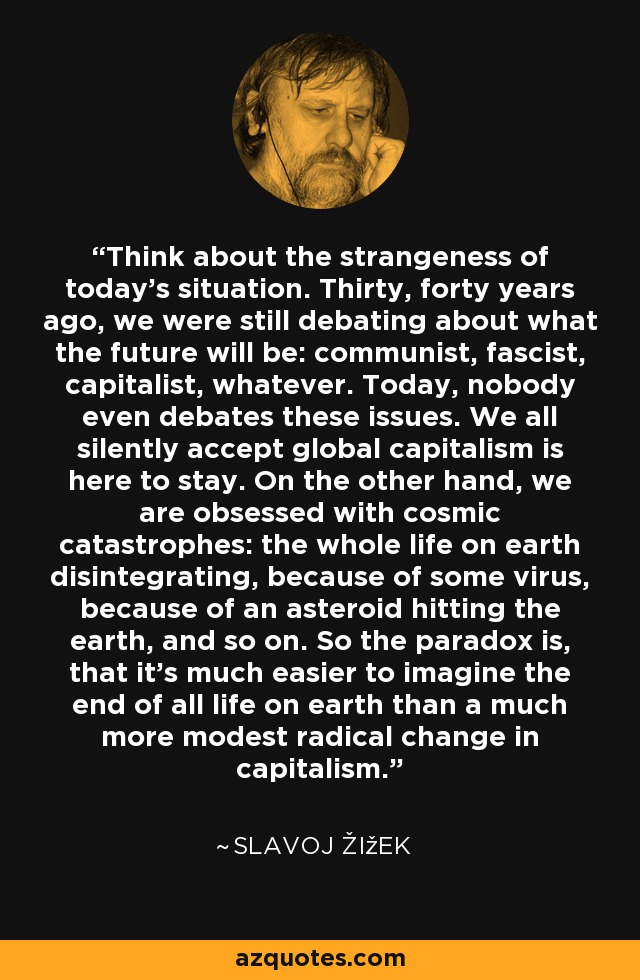
“”Nature is not a balanced totality which then we humans disturb. Nature is a big series of unimaginable catastrophes!”, sustenta Zizek no filme Examined Life, tentando demolir a idéia demasiado otimista daqueles que, devotos da deusa Gaia, acreditam numa Natureza harmoniosa, balanceada e amigável que só sairia de seus trilhos por causa das insensatas intervenções humanas em seu seio edênico.
Que uma catástrofe de tais proporções seja possível é o que a extinção dos dinossauros nos indica. Não só vivemos num cosmos onde merda acontece, mas mais que isso: de vez em quando acontece merda grandiosa, bem mais do que cocô de mamute lançado a um ventilador GG.
Outra prova? O petróleo, fonte de energia predileta de nossa civilização-de-dias-contados, gerou-se a partir de uma desgraça monumental que teve que ocorrer neste planeta. Wikipedia: “É de aceitação para a maioria dos geólogos e geoquímicos, que ele [petróleo] se forme a partir de substâncias orgânicas procedentes da superfície terrestre (detritos orgânicos)… há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém a mais aceita é que ele surgiu através de restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhões de anos”. Que tipo de petróleo do futuro seria formado a partir dos detritos orgânicos de 7 bilhões de homo sapiens?
Zizek, em sua entrevista ao documentário de Astra Taylor Examined Life, comenta ainda nós seres humanos somos constantemente “tentados”, em situações de catástrofe, a encontrar nela um sentido, uma explicação, uma justificativa, uma desculpa. A AIDS, por exemplo, seria punição divina recaindo sobre homossexuais e junkies; os terremotos no Haiti ou no Japão, prenúncios da volta de Cristo… Há algo de consolador nisto, sugere Zizek, pois com isso evitamos pensar que existem catástrofes causadas por forças naturais cegas e desapiedadas e nos agarramos à tese de que, afinal de contas, em última análise, há de haver um sentido, ainda que Deus escreva certo por linhas tortas e pareça ter uns cem milhões de parafusos a menos em sua cabecinha sofrente de demência senil… Eis o conceito interessantíssimo de the temptation of meaning (a tentação do sentido).
Melancholia é um filme de um ateísmo implícito sem falhas. Em nenhum momento o espectador vê algum personagem rezando para os céus ou invocando a ajuda de um deus. Ninguém sugere uma justificativa para o fenômeno astronômico do tipo punição divina ou Somoda e Gomorra revisitada. Apesar de Justine sustentar que “a vida na Terra é má”, jamais sugere que, em decorrência disso é que a catástrofe cósmica está ocorrendo, como para purgar o Universo de um câncer; sua idéia, tipicamente melancólica, consiste mais em retirar o valor daquilo que será destruído para que esta destruição não seja sentida como tão trágica assim…
Lars Von Trier não cai na “tentação do sentido”, para usar a expressão de Zizek, e não tira nem um grama das toneladas de ABSURDIDADE GRATUITA que chocam-se contra o planeta dos personagens. Diante de um evento tão calamitoso, seria no mínimo ridículo e obsceno sustentar o insustentável: que há um Deus preocupado com o humano. Esta escapatória fácil o filme não permite ao espectador e é isto que comunica um certo mal-estar que persiste bem depois dos créditos finais.
A “cabaninha mágica” que Justine inventa para abrigar a criança, afinal de contas, é bem semelhante a uma religião: algo fabricado por humanos em momentos de angústia para minorar nossa sensação de impotência. Em última análise, porém, o cosmos passa por cima de nossas cabaninhas mágicas com perfeita impiedade. Melancolia, este planeta ímpio, este majestoso emblema Düreriano, não respeita os deuses que os humanos se inventam para neles abrigarem-se como crianças em cabaninhas mágicas.


Publicado em: 13/05/22
De autoria: Eduardo Carli de Moraes




