
ACOLHENDO AS MARÉS DA MUDANÇA: Beck Hansen e o “tudo flui” de “Sea Change” (2002)
“In a sea-change, nothing’s safe
Strange waves push us every way”
BECK, “Little One”, 2002
“Everything passes, everything changes
Just do what you think you should do”
BOB DYLAN, “To Ramona, 1964”
A primeira sensação que tive ao dar o primeiro play em Sea Change (2002, Geffen), sexto álbum de estúdio de Beck, foi de estranheza: não era exatamente essa pessoa que eu estava esperando encontrar após álbuns tão ecléticos, festivos, híbridos e exuberantes como Odelay, Mellow Gold e Midnite Vultures. “Beck mudou e está soando como Nick Drake“, pensei, assombrado com a melancolia de um artista que eu havia aprendido a vincular com a jovialidade e um jorrante júbilo com o lúdico. Agora, Beck ressurgia lamentoso, chorando por ser “uma causa perdida” – o loser parecia ter perdido a vibe auto-irônica e estava de fato fazendo em público alguma espécie nova de terapia anti-depressiva e de reflexão filosófica musicada.
Este senso de estranheza não é necessariamente uma má coisa e não prova nada contra a obra em si: a capacidade de nos surpreender positivamente com o aparecimento de uma persona diversa da que antes conhecíamos é uma qualidade restrita a alguns poucos artistas que tem a coragem de ir em frente e ir além (é o charme, por exemplo, de Remain in Light na carreira dos Talking Heads ou de Revolver na dos Beatles). É preciso ousadia pra tomar estradas radicalmente diferentes das do passado e mover-se em direções novas e inexploradas, deixando de ser uma imitação do passado, rompendo com a petrificação da personalidade.
Temos exemplos desse tipo de radical modificação musical e comportamental no Radiohead, respondendo aos pedidos por OK Computer 2 com o estranhíssimo experimento pós-punk + tecno experimental de Kid A e de Amnesiac. Ou em Bob Dylan, mandando as guitarras elétricas de Bringin’ It All Back Home na orelha dos puritanos folk após 4 discos em que havia se expressado sempre de maneira acústica e seguindo as pegadas de Woody Guthrie. Ou em David Bowie e suas eternas mutações camaleônicas, até o fim – Black Star sendo sua derradeira metamorfose.

Beck, artista de grandeza comparável aos citados, nunca teve medo da mudança – e seu álbum Sea Change – produzido pelo mestre Nigel Godrich – é mais um passo em direção a um campo relativamente inexplorado por ele. Louvável metamorfose. Sea Change parece representar para a carreira dele algo similar ao que representou o Nashville Skyline para a de Dylan: um retorno à simplicidade perdida.
Mr. Zimmermann gravou no meio dos anos 60 sua fenomenal trilogia elétrica, acompanhado pela The Band: Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde On Blonde, três obras-primas fodásticas na história da música popular. Ali, misturava freneticamente estilos “arcaicos” (o folk e o blues acústicos) com as novidades efervescentes (o rock and roll com guitarra elétrica), procurando diferentes meios pra declamar suas poesias.
Criava naqueles tempos letras bastante complexas, que flertavam com o surrealismo, com o dadaísmo e com a Geração Beat (Allen Ginsberg caiu de amores); enfiava a guitarrona no que antes era só folkzinho à base de violão e gaita; compunha ambiciosos épicos de mais de 10 minutos de duração (“Desolation Row” e “Sad-Eyed Lady Of The Lowlands”); era obscuro e misterioso nas raras entrevistas que dava. Foi em 1966 que lançou seu primeiro livro de prosa poética, Tarântula, um jorro monstruoso de letras delirantes de hermetismo absolutamente impenetrável (alguém tem a pretensão de ter entendido esse livro?). Naqueles tempos, Bob estava a fim de ser Rimbaud. Suas ambições subiam aos céus e ele gastava todos os seus esforços na tentativa – na maioria das vezes muito bem-sucedida – de ser espertalhão e genioso.
A metamorfose parece ter acontecido após seu acidente de moto em 1967 (até hoje muito mal explicado) e seu flerte com o country no John Wesley Harding. Dylan retornou em 1969 bastante modificado com essa estranha pérola que é o Nashville Skyline. Como se toda a sua ambição tivesse se escoado, como se o poeta vanguardista tivesse sossegado e dado lugar a um simples cantor caipira e tranquilo, Dylan voltava com um álbum com 28 minutos de um folk/country pouquíssimo pretensioso. Como se não tivesse mais nada a provar pra ninguém e estivesse livre para ser simples em paz, cantando suas canções de amor com voz suave e sincera.

O paralelo com Beck me parece claro: nascido em 1970 em Los Angeles, Beck Hansen já recebeu de muitos críticos da imprensa musical o apelido “o novo Bob Dylan” – e, neste caso, não me parece ser somente sensacionalismo fomentando o hype. Quando seu mega-hit “Loser” estourou nas paradas em 1994, transformando-se numa das músicas-monumento da música pop nos anos 90, com aquele que é um dos mais célebres refrões da década), e seu disco de estréia, o caleidoscópico Mellow Gold, foi lançado, a crítica não pôde evitar as comparações de Hansen com Zimmermann.
Beck aparecia como um poeta doidão, consumidor obsessivo de cultura pop, legítimo filho da Era Digital nascente, disparando referências, jogos de palavras e associações livres aos borbotões em suas letras. Musicalmente, movia-se num campo musical ainda mais vasto do que o Dylan da Trilogia Elétrica: tacava funk, folk, hip hop, indie lo-fi, música brasileira, country e psicodelia no liquidificador e saía com um mosaico de estilos amalgamados.
Com o lançamento do clássico Odelay, em 1996, quase por unanimidade tido pela crítica como um dos 10 melhores álbuns da década, tornou efetivamente-se um dos raros nomes a ter os louvores da crítica lado a lado com a consagração popular (justamente como Bob Dylan ou os Beatles). Espertalhão e genioso, disparando letras que para muitos eram impenetráveis, carregadas com simbolismo e word-plays, Beck era o mais próximo de Dylan que os anos 90 viram nascer.
Sea Change, sexto álbum autoral de sua prolífica carreira (não contando a coleta de gravações lo-fi Stereopathetic Soul Manure), traz consideráveis modificações na persona de Beck que aparecia em sua trajetória pregresse. Dentre os álbuns já lançados por ele, o que mais se irmana à esse Sea Change é o Mutations, de 1998: os dois são álbuns mais “na manha”, que se movimentam num ambiente folk mais tranquilão – ambos foram produzidos por Nigel Godrich (produtor que ajudou o Radiohead a cometer a obra-prima OK Computer, e que também emprestou seus notáveis serviços de produção aos Delgados, ao R.E.M., ao Pavement, dentre outros).
Parece sintomático que Sea Change e Mutations ambos tragam em seus respectivos títulos referências à mudança: eles representam uma certa metamorfose beckiana em relação ao seu passado, uma invasão de um território novo e inexplorado, um aparecimento dum Beck diferente dos anteriores, a ponto de o epíteto “camaleão do rock”, sempre tascado pra cima de Bowie, não cai nada mal no próprio Beck.
Sea Change é o mais confessional dos álbuns já lançados pelo cara. Ele parece finalmente se desinteressar pelos tours de force por dezenas de estilos musicais, pulando de galho em galho na floresta dos gêneros sônicos, para se render à simplicidade folk. É como se ele agora quisesse se fixar em um lugar familiar que possa chamar de um lar.
Se em Mellow Gold, Odelay e Midnight Vultures, com uma certa obsessão pela versatilidade (como o Dylan da Trilogia Elétrica), Beck criara discos relativamente fragmentários e heterogêneos, numa deliciosa bagunça formada a partir dos vômitos de um junkie de cultura pop em processo de antropofagia, em Sea Change um outro Beck se apresenta, mais envelhecido e amadurecido, com a obra sua que apresenta o mais alto grau de homogeneidade e coerência até hoje.
É um Álbum no sentido mais profundo da palavra: não somente um amontoado de canções, mas uma série de músicas que constrói uma certa unidade sonora e temática. Baladeiro, sereno e melancólico, Beck abandona o clima festeiro de antigamente e cede lugar a uma travessia por sons mais tranquilões e tristonhos. Os violões dominam o ambiente. A cantoria é suave, sem malabarismos vocais, sem passeios nos domínios do rap ou do funk. É a voz de um trovador folk à maneira de Dylan, Van Morrison, Townes Van Zandt.
“Round The Bend”, com seus vocais sussurados, parecendo um cântico de um monge em meditação, lembra a tímida cantoria do ícone cult Nick Drake e dialoga com uma das bandas que despontava neste estilo musical, o Belle & Sebastian. As orquestrações que tomam conta de certas faixas – notavelmente “Paper Tiger” e “Lonesome Tears” – também trazem à mente a junção de folk com orquestra no Bryter Layter, clássico de Drake.
A poesia de Beck, até hoje muito subestimada e incompreendida, se torna límpida em Sea Change: com palavras simples, sem cinismo nem ironia, sem joguinhos arbitrários com as associações, ele dá vazão a seu coração com uma sinceridade nunca antes vista em sua carreira. Beck nunca esteve tão sentimental. Sem querer exagerar na fofocagem sobre a vida das estrelas, mas sabendo que essa informação é importante pra compreensão da obra (certas expressões artísticas são incompreensíveis pra quem não conhece a biografia do artista), é bom lembrar que Beck manisfestamente compôs o disco após terminar um relacionamento de 9 anos com sua namorada.
As mágoas de seu coraçãozinho partido espalham-se pelo álbum, cheio de referências à perda de seu amor, mas sem nunca cair no melodrama: tanto que teve crítico por aí dizendo (outro paralelo Dylanesco possível) que Sea Change é uma espécie de Blood On The Tracks beckiano, uma vez que o clássico dylaniano de 1975 também foi composto após o fim de um relacionamento duradouro (o casamento com Sara).
A Mudança parece ser o tema central dentro de Sea Change, como um porto onde Beck sempre volta a atracar. Esse é seu tormento e seu desafio. Como um discípulo de Heráclito, ele vai dizendo várias vezes pelo disco: tudo flui. Mas dizer daí que a consequência disso é que “nunca se banha duas vezes no mesmo rio” é se ater somente ao lado otimista da coisa. É lendária a fama que tinha Heráclito de ser um sujeito extremamente triste, em contraponto com o também lendário sorriso de Demócrito.
Beck, que em sua carreira anterior parecia se sentir extremamente à vontade com as transmutações, um mutante feliz à la Demócrito, chega em Sea Change com cara de Heráclito. Vai descrever as desgraças da metamorfose, o nosso cruel arrastamento nas correntes do tempo, nossa brutal modificação de sentimentos e de humor, a angustiante efemeridade de tudo o que é humano. É um disco sobre o Amor, é claro, mas sobre o amor inserido dentro da metamorfose: se tudo flui, também fluem as pessoas, também está condenado à impermanência o amor, também não escapa à dinâmica a afeição que temos por outros. Na linda “Already Dead”, canta:
Time wears away
All the pleasures of the day
All the treasures you could hold
Days turn to sand
Losing strenght in every hand
They can’t hold you anymore
Already dead to me now
cause it feels like i’m watching something dying….
A experiência do devir se torna a experiência da morte: estamos escoando ladeira abaixo numa corrente de impermanência. Assistir o passar do tempo é como observar a lenta caminhada de um mecanismo de destruição. É como se ele dissesse que a morte não é um momento mas um processo. É da essência da própria vida, talvez. Todos os prazeres, todos os amores, todos os tesouros, todas as pessoas, estão sendo arrastadas pelo fluxo universal em direção à dissolução. O tempo destrói tudo.
“Vi o amor que você tinha se transformando em ódio / E tive que agir como se nem me importasse”, canta ele em “End Of The Day”, no que pode parecer uma descoberta vulgar (quem de nós não sabe que podemos odiar quem antes amávamos?), mas que é talvez a tese (e o tormento) principal de Beck nesse disco. “Não é nada que eu não tenha visto antes”, diz ele na mesma música, “mas ainda me assassina como fazia antes”. O fato de ser uma constatação ordinária não faz com que seja menos dolorosa.
O amor – que Beck sabe bem que não tem nada de eterno, apesar do que dizem as novelas mexicanas, os conselheiros matrimoniais e os enredos hollywoodianos – é tratado como mais uma das inúmeras coisas que entram no turbilhão do devir. As pessoas mudam, com elas os sentimentos, e fica-se com essa bolha frágil, facilmente quebrável, sempre mutante e efêmera, o amor dos mortais. Na singela “Lonesome Tears”, canta ele:
How could this love, ever-turning,
Never turn its eye on me?
How could this love, ever-changing,
Never change the way I feel?
Não há nada seguro. Nada verdadeiramente perene. “In the sea-change, nothing is safe / Strange waves push us every day”, canta em “Little One”. Como Dylan antes dele (só pensar nos versos de “To Ramona” ou em toda “The Times Are-A Changin’”), Beck descobre-se como uma existência metamórfica num mundo metamórfico, e, apesar da angústia, aceita a realidade do processo. Não é cara de se agarrar perpetuamente a um só personagem. É um camaleão, e é bom que seja. Não é o tipo de artista que fica preso a seu passado, a um certo personagem que inventou para si mesmo. Beck não tem medo de mudar.
Sabe bem que inserido no devir do mundo há também o devir do eu, e talvez por isso mesmo o “eu” não existe, como Buda já explicou. Não há um Beck; há vários. Cada pessoa é uma multidão. Eis porque é preciso “aprender a deixar o passado pra trás” (“Guess I’m Doing Fine”) e abandonar “certos dias que as lágrimas não conseguem apagar” (“Lonesome Tears”). Não há solução: a cada instante, não somos mais exatamente o que éramos no instante anterior, e não há sabedoria em se debruçar no passado e agarrar-se ao “eu perdido”.
“But we don’t have to worry / Life goes where it does”, canta ele em “Round The Bend”, como se dissesse que a sabedoria – sempre tão difícil – está em abandonar-se à corrente. É aquele papo meio Raul Seixista: por que não ser uma metamorfose ambulante ao invés de ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Por que não acolher as marés da mudança, ao invés de se apegar a uma “personalidade imutável” que seria apenas uma impostura, apenas uma ilusão, apenas uma artificial atuação?
É essa talvez uma das sugestões da sabedoria beckiana em Sea Change: ao invés de lutar contra o fluxo, ao invés de insistir em ser um bote contra a corrente, por que não simplesmente soltar-se e deixar-se ir? Sua expressão do devir é uma terapia no meio da correnteza que o arrasta. Sua música é de uma sabedoria que evoca a de Alan Watts: “o único modo de construir sentido a partir da mudança é mergulhar nela, mover-se nela e entrar na dança.”
Eduardo Carli de Moraes
Fevereiro de 2004 – Republicado em 2020
A Casa de Vidro – www.acasadevidro.com
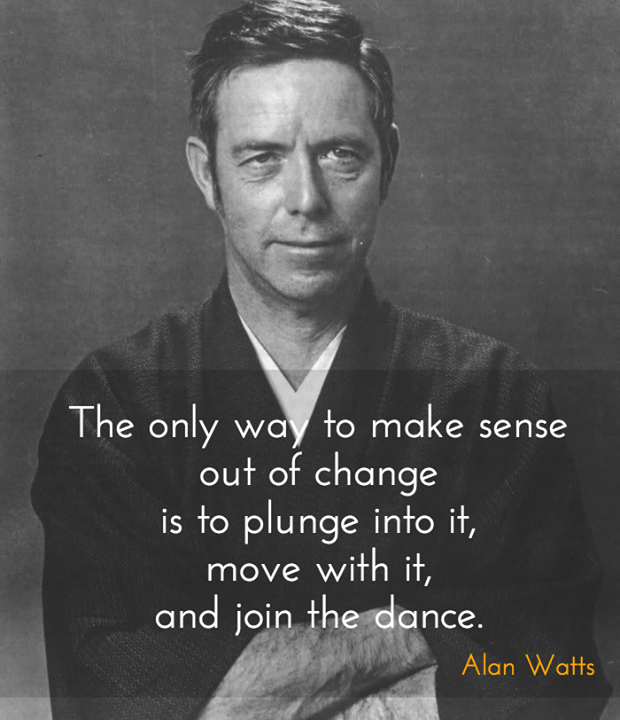
https://www.youtube.com/watch?v=Y6zAT15vaFkhttps://www.youtube.com/watch?v=zWe6bMVvTzkhttps://www.youtube.com/watch?v=bkfG_ciT0wohttps://www.youtube.com/watch?v=qkNa5xzOe5U
Publicado em: 24/01/18
De autoria: Eduardo Carli de Moraes




